
Duarte Trigueiros
Regresso a Uaidora
A infância e juventude de Domingos Gusmão
Macau, 2022
Este livro mostra, pelos olhos de uma criança, o dia-a-dia dos agricultores das montanhas de Baucau em Timor-Leste, a determinação como reagiram à invasão do seu país em 1975 e a brutal repressão que se seguiu. “Regresso a Uaidora” é um testemunho único, próximo e comovente da heroicidade de um povo que, ao longo de 24 anos de luta, nunca perdeu a esperança (imprimir).
Edição: Duarte Trigueiros
Fotografias que não sejam do domínio público: Domingos Gusmão
Capa: Carlos Gonçalves
Tiragem: 100 exemplares
Impressão: Gráfica Vui Fong, Pr. Ponte e Horta 3A, Macau
Data da impressão: maio de 2022
ISBN: 978-99981-49-99-1 (Macau, China, 2022)
duarte.trigueiros@usj.edu.mo
Não venho contar a história da ocupação de Timor-Leste nem quero reabrir feridas antigas. Somente desejo narrar como decorreu a minha infância e juventude para que a memória de pessoas, tempos e lugares não se perca. Escrevo apenas sobre aquilo que eu próprio presenciei ou me foi dito por testemunhas em quem confio.
Este livro tem um narrador e um autor. O narrador sou eu e o autor é o Duarte Trigueiros que conheci enquanto estudava em Macau e a quem pedi que escrevesse esta narrativa. Eu revi o texto – fiz várias revisões – e confirmo que está de acordo com o que quis narrar. Eu teria sido incapaz de escrever um livro em português. Estou agradecido ao autor pela ordenação das recordações que lhe fui transmitindo e pelo rigor com que as pôs por escrito. Também lhe agradeço alguma contextualização da narrativa, a introdução, apêndices, e explicações complementares.
Domingos Gusmão
De regresso a Uaidora, tomei primeiro um avião para Singapura, horas e horas, depois outro para Bali, e por fim para Díli. Viajei então para Baucau e à chegada levaram-me para Quelicai, à sombra de Matebian. A última etapa quis fazê-la a pé, duas horas a subir.
Foi durante essa jornada que percebi que o meu regresso era impossível. A montanha, as estrelas, eram as mesmas, mas as pessoas e a vegetação já não eram aquelas que eu conhecera. Onde estavam as casas, as árvores e suas sombras? Como é possível que o eco de risos tenha desaparecido da memória?
Restam as encostas nuas debaixo do sol, silenciosas. No dia em que regressei, percebi que Uaidora tinha ficado para trás e foi então que fiz o propósito de não deixar que se esqueçam as sombras das árvores, os ecos de risos nas encostas e os mortos da minha infância.
Segundo o meu assento de batismo eu teria nascido a 1 de novembro de 1969 em Uaidora no município de Baucau em Timor-Leste e seria filho de Julião, agricultor e de Juliana, doméstica. Mas só o local onde nasci está correto. A data de nascimento não passa de uma conjetura e os nomes que aparecem na certidão como sendo os meus pais, Julião e Juliana, também não são os de meu verdadeiro pai e mãe, mas de parentes que me adotaram quando fiquei órfão. Na verdade, sou filho de Martinho Gusmão, cujo nome de código foi “Maunoco” e era o chefe da aldeia Uaidora até à sua morte em 1983; e a minha mãe foi Ricardina, a segunda mulher de Martinho Gusmão, aquela que lhe deu descendência. Tenho nove irmãos, mas apenas cinco estão vivos; e sou o segundo por ordem de nascimento, mas o primeiro varão.
Uaidora, a minha aldeia, pertence ao suco Letemumo.1 Na época em que nasci, viviam em Uaidora umas vinte famílias de agricultores cujo dia-a-dia se mantivera quase inalterado ao longo dos séculos. Pousada junto a uma ribeira, o nome “Uaidora” indica a ponte que permite atravessá-la. A terra dá-nos abundância de arroz, mas também milho, batata, inhame, mandioca e um pouco de café para nosso próprio consumo. Faz-se criação de galinhas, cabras e porcos. Durante a minha infância era comum que as famílias possuíssem cavalos e búfalos. Não nos faltava lenha, já que nessa época as encostas estavam densamente arborizadas. E tínhamos água durante quase todo o ano.
Uaidora ocupa um terreno elevado, uma espécie de saliência que marca o extremo de um conjunto de elevações rodeadas por vales. Por sua vez, essas elevações são os contrafortes de uma grande montanha, isolada e possante, chamada “Matebian”, a montanha dos mortos (Figura 1.1).
Matebian corre de sul para norte e é constituída por duas elevações em forma de mesa ou planalto com encostas escarpadas, separadas por um vale profundo. Em cima desses dois planaltos existem vários picos isolados. O pico mais alto chama-se “Mane” (homem) e fica logo a sul do grande vale. Tem mais de dois mil metros de altitude. Existe outro pico a norte do grande vale, chamado “Feto” (mulher). Os nomes destas elevações são “foho Matebian Feto” e “foho Matebian Mane”, de foho (montanha). Matebian inclui os picos e os planaltos onde eles assentam: montanhas em cima das montanhas.
A face de Matebian virada para poente, junto à qual se encontra a minha aldeia, pertence ao posto administrativo de Quelicai, uma região agreste e de maior altitude que se prolonga para norte e vai perdendo aspereza até desembocar no planalto de Baucau. Daí, o terreno desce abruptamente até à baía de Laga, no litoral norte da ilha de Timor. A encosta de Matebian virada para nascente e sul é menos acidentada. Pertence ao posto administrativo de Baguía, que é vizinho do nosso, do lado sul.

O ar que respiramos em Uaidora é límpido e saudável, sem as febres que hoje existem nas zonas baixas da ilha; e a vista é deslumbrante: para norte, temos o município de Baucau a nossos pés e ao fundo avistamos a costa, as terras de Laga e o mar. Mas, apesar de todos os dias entrevermos esse pequeno mundo, a verdade é que Uaidora e as outras aldeias da região estavam, nos meus tempos de infância, isto é, nos anos 60 e 70 do século XX, isoladas das principais vias de comunicação e não eram visitadas com frequência. A aldeia seguia o seu ritmo, o do dia e da noite, das estações do ano, dos nascimentos, casamentos, mortes, das colheitas e suas celebrações. Os viajantes que porventura seguissem de Quelicai para sul, metiam-se pelos vales e não passavam junto a Uaidora, lá no alto.
As nossas casas tradicionais eram espaçosas e acolhedoras, e resistiam bem à intempérie, fosse frio, calor ou tempestades. Algumas dessas casas tinham centenas de anos. Casas esbeltas, como já se não fazem. Os seus telhados mostravam, na sua parte elevada, a típica cor preta (Figura 1.2) que vem da cobertura de “marrabi”, a fibra tirada do tronco de uma palmeira de onde também se extrai o vinho de palma.2
O relacionamento entre as pessoas obedecia a costumes antigos. As obrigações para com os outros, por exemplo, eram ditadas pelo grupo tradicional a que cada um pertencesse. Por comodidade, eu vou aqui usar a palavra “ordem” para designar esse tipo de grupo tradicional. Em Uaidora existiam seis dessas ordens e cada uma delas funcionava como uma grande família.
Não cabia ao chefe da aldeia organizar o amparo dos idosos ou o cuidado dos doentes, tomar conta das viúvas ou órfãos, dirimir contendas, disciplinar infratores ou praticar o culto tradicional. As obrigações, quando surgiam, já se encontravam de antemão atribuídas dentro de cada ordem.
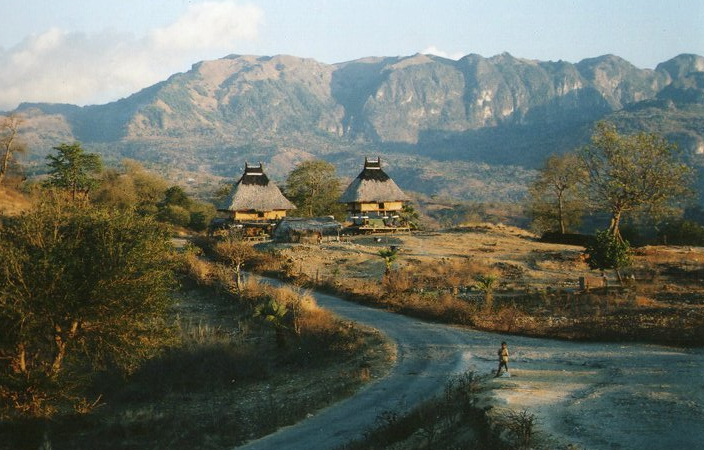
Eu pertenço à ordem “Uaidora Uma Tamedá” que significa “de Uaidora, do segundo filho” mas fui educado como sendo da ordem “Uaidora Uma Inauaé” que significa “de Uaidora, do primeiro filho” pois o meu avô materno, que foi quem me criou, é do primeiro filho de Uaidora, enquanto o meu pai é do segundo. Estas referências a primeiros e segundos filhos não indicam ascendência próxima. Indicam ascendência, sim, mas lendária, e têm a ver com a narrativa que descreve a fundação da aldeia, como agora vou contar.
Era uma vez uma família que fugiu de uma aldeia chamado Uaidora. Essa aldeia estava (e ainda está) situada no posto administrativo de Baguía, na outra banda de Matebian. Depois de vaguearem errantes por muito tempo sem encontrarem uma terra aprazível, os membros dessa família chegaram por fim a um lugar de seu agrado e onde todos desejaram estabelecer-se. Mas havia um problema: apesar de terem esquadrinhado as redondezas, não encontraram uma pinga de água. Então, voltaram a Uaidora, sua terra de origem, recolheram em vasilhas a água que lá existia e trouxeram-na para o lugar onde desejavam estabelecer-se. Aí chegados, derramaram no chão a água que tinham trazido e logo brotou uma fonte de grande caudal. Essa fonte passou a chamar-se “fonte Uaidora” em memória da terra de origem da sua água. A fonte Uaidora é portanto o berço da minha aldeia; mas é mais do que isso, é a nascente da ribeira3 e o sustento do canal, ambos os quais irrigam os nossos campos de arroz.
Nessa família que fundou Uaidora existiam três filhos: o primeiro, o segundo e o terceiro. As ordens a que fiz referência vêm daí. Os descendentes do primeiro filho formam hoje a ordem Uaidora Uma Inauaé, os do segundo formam a ordem Uaidora Uma Tamedá e os do terceiro formam a ordem “Uaidora Uma Uaiúla”, que previsivelmente quer dizer “de Uaidora, do terceiro filho”. Estas são as ordens originais, as únicas que usam o nome Uaidora.
Mais tarde, juntaram-se-lhes outras três ordens que já não são de Uaidora pois a sua génese não é o lugar do mesmo nome em Baguía, além-montanha. Temos, pois, uma quarta ordem chamada “Liquiluro” (estrela), que é também o nome de um cabeço próximo; e temos uma quinta e sexta ordens chamadas “Lopofalo” e “Depafalo”. O significado destes dois últimos nomes tem a ver com limitações gastronómicas dos seus membros. É gente, ou era antigamente, a quem certas comidas faziam mal. Depafalo, por exemplo, indica pessoas que não podiam comer cão – sim, cão – porque lhes fazia mal. Eu agora não me lembro de qual era a comida que fazia mal aos Lopofalo. Talvez me lembre mais adiante.
Antigamente, cada ordem ocupava uma parte do território da aldeia. Os de Depafalo e Lopofalo estavam do outro lado do monte Ossolia, enquanto os restantes quatro estavam a sul, ao longo do canal de irrigação que liga a fonte Uaidora aos campos de arroz; e também ainda mais a sul e em baixo, ao longo da ribeira Uaidora e de seus extensos campos de arroz, já perto do suco Bualale (Figura 2.1). Por alguma razão, considera-se que as três ordens Uaidora estão próximas da ordem Liquiluro. E tempos houve em que a aldeia tinha dois chefes, um para as quatro ordens Uaidora junto com Liquiluro e outro para as restantes duas ordens.
Convirá referir que as ordens não são castas. As pessoas casam fora da sua ordem e não existe qualquer supremacia, nem mesmo honorífica, de uma ordem em relação às outras.
A pertença a cada ordem vem por via paterna e determina, não apenas quem tem o dever de ajudar a quem e o papel de cada um nas festas tradicionais, mas até o lugar onde se realizam certas cerimónias e a comida que aí é servida. Em princípio, cada ordem deveria ter a sua própria casa sagrada e de entre as cerimónias que aí se fazem, a mais importante é a oferenda do milho novo, a qual é levada a cabo pelos avós, isto é, pelos mais idosos. Todos os assuntos que tenham a ver com as ordens e as relações entre elas estão a cargo dos respetivos avós.
A ordem é suficientemente grande para conseguir prestar apoio aos que dele necessitam, sem sobrecarregar demasiado os seus membros, mas é suficientemente pequena para que todos se conheçam. Uma família isolada nem sempre seria capaz de prestar o apoio que cinco ou seis famílias juntas, a ordem, conseguem dar. E transmite um sentido de pertença mais real e duradoiro do que aquele que uma só família conseguiria proporcionar.
Antes da invasão de Timor-Leste em 1975, as três ordens Uaidora partilhavam a mesma casa sagrada, a qual se erguia, imponente, no topo do monte Ossolia. Antigamente, esse cabeço não se chamava Ossolia, mas “Uamutu” e apesar do incómodo de ter de carregar água e alimentos lá para cima, existia uma família de Uaidora Uma Inauaé que vivia aí.
Os membros de cada ordem, especialmente os avós, eram ciosos das suas prorrogativas, obrigações e tradições. Eles procuravam incutir nos membros mais novos o sentido de pertença à sua ordem e esforçavam-se por transmitir o conhecimento dessas prorrogativas, obrigações e tradições. Lembro-me bem de, sendo ainda muito menino, os avós do lado paterno (de Uaidora Uma Tamedá) me virem trazer, em dias de festa, a comida proveniente das cerimónias deles para que eu nunca me esquecesse da ordem a que realmente pertencia. Eles estavam preocupados, digamos assim, pelo facto de eu, ao viver com os meus avós maternos e não com os meus pais, comer a comida sagrada de Uaidora Uma Inauaé em vez de comer a comida sagrada de Uaidora Uma Tamedá. Este cuidado ilustra bem o zelo pela identidade da sua ordem que os idosos tinham e, apesar de tudo, ainda têm.
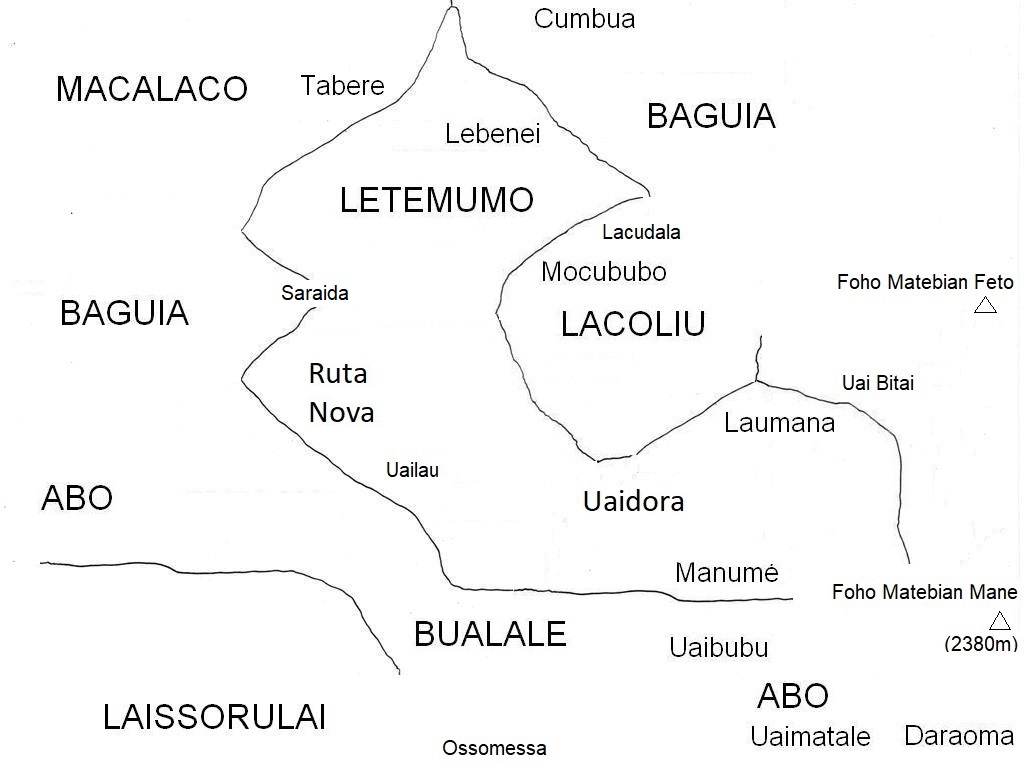
Fui, de facto, criado pelos meus avós maternos. Uma das obrigações tradicionais do casamento consiste em entregar o primeiro filho varão aos avós maternos com o fim de que ele os venha a sustentar na velhice e apoiar em tudo o que precisarem. Por isso, antes mesmo de ter nascido, já eu havia sido destinado ao amparo de meus avós maternos; e o lugar onde vi a luz do dia, Uatulalu, era onde eles viviam, não onde viviam os meus pais.
Falando de lugares, é preciso explicar que nesta zona de Timor-Leste o povoamento é disperso. As aldeias não têm as casas juntas, nem sequer perto umas das outras. Cada casa tem à sua volta um quintal, isto é, um terreno agrícola de boa dimensão onde existem hortas e pomares. E a aldeia, mais do que um lugar, é uma região povoada, que pode ser vasta e pode incluir vários lugares diferentes, cada um deles com o seu nome. Assim, Uatulalu e Ailímissi, o lugar vizinho do nosso, fazem ambos parte de Uaidora e ficam a escassos 5 minutos a pé do lugar considerado como o seu centro, a que chamamos Afalebe, de onde meu pai e sua família procedem.
Teria eu três ou quatro anos de idade quando os meus pais se mudaram de Afalebe para Aguía, um lugar que pertence a Manumé, a aldeia vizinha, e que está ainda mais encostada a Matebian, a nascente e sul de Uaidora. À data, só duas famílias viviam em Uatulalu e mais outras três em Ailímissi; e vários dos nossos parentes próximos viviam ali perto, em Afalebe.
Aquilo de que mais me lembro desses tempos de infância na aldeia é do silêncio (um silêncio misturado com risos) e da amizade. Tanto durante o dia como à noite, as crianças iam de um lado para o outro em segurança, fosse para longe ou para perto. Não havia nada de que sentíssemos medo. E éramos unidos, amigos uns dos outros. Todos se conheciam, se ajudavam e brincavam juntos.
Os meus companheiros de brincadeira e amigos mais chegados foram esses vizinhos de Uatulalu e Ailímissi. Em Uatulalu existiam duas casas, a do Simão e a do tio Tomás Aquino. As três famílias que viviam em Ailímissi também tinham crianças. Uma delas, com a minha idade, chamava-se Labilui e era cego. Outros amigos de então foram os irmãos Mário e Agostinha, que ainda vivem em Ailímissi, e os irmãos de Labilui, Fernando e António, que hoje estão em Baucau.
Vivi em Uatulalu com os meus avós até aos sete ou oito anos de idade, altura da nossa fuga. E depois de termos fugido, continuei com eles para os servir e amparar, sendo sempre por eles tratado com grande confiança e liberalidade.
Em Uaidora todos possuíam recursos suficientes para viverem. Cada família tinha terras para cultivar arroz e milho, às vezes longe de casa, e tinha também os quintais, junto de casa, que davam fruta, batata, mandioca, inhame; e ainda tinham encostas para lenha ou pasto. Toda a gente trabalhava. As crianças, por exemplo, limpavam, arrumavam, lavavam utensílios, traziam água, ajudavam a cuidar da criação, faziam recados ou, segundo a época do ano, levavam os animais para o pasto (na estação húmida) e traziam o pasto aos animais (na estação seca, de junho a outubro) – e ainda lhes sobrava tempo para brincarem e fazerem travessuras.
Não existiam diferenças na riqueza ou estatuto das pessoas, nas posses de cada família, nem no seu modo de vida. Alguns tinham um ou dois búfalos ou cavalos, outros não; mas passado um tempo, talvez que aqueles que antes tinham um búfalo, agora já o não tivessem; e os que antes não tinham nenhum cavalo, agora talvez já o possuíssem.
Havia redistribuição do património, digamos assim, resultado de costumes como o dote ou de obrigações contraídas com o casamento de pais e avós, as quais eram transmitidas, e ainda são, de uma geração para a seguinte e eram (são) muito onerosas. Ainda hoje eu, meus irmãos e primos, estamos a pagar à família da nossa avó materna, que morreu quando éramos crianças, um número de búfalos proporcional ao seu dote de casamento – e não é pouco!
Aqueles que, para não terem de pagar impostos, anseiam por uma vida simples e campestre, não venham viver para Uaidora pois a nossa organização tradicional está cheia de obrigações caras que não deixam a riqueza acumular-se. E, ao contrário do que se vê na cidade, as obrigações, na aldeia, são próximas, fáceis de entender, mas quase impossíveis de iludir.
Será que existia o sentido da propriedade privada? Sim. Cada pé de arroz, cada coqueiro, cada bananeira, cada pedaço de terra, mesmo uma encosta pedregosa, tinha dono. Mas não se pode dizer que tal propriedade fosse algo de privado; e também não era muito própria ou pessoal. Não era privada porque todos na aldeia sabiam muito bem quem era o dono do quê. Não existia privacidade ou segredo na posse dos bens, como existe na cidade; e a propriedade também não era muito pessoal porque, por variados motivos (casamentos, cumprimento de obrigações de ajuda ou outros deveres tradicionais), os bens mudavam de mão.
Cada um sabia o que era seu e o que era dos outros, mas ninguém, na aldeia, se julgava dono e senhor de um campo, casa ou búfalo. Quando, por exemplo, um campo ficava por lavrar, eram os avós da respetiva ordem que decidiam a quem esse campo ou quintal ia caber. As heranças eram também decididas dentro de cada ordem, segundo o costume. E caso o costume fosse omisso, então fazia-se aquilo que os avós decidissem. Portanto os bens eram da família e da ordem, não tanto do indivíduo. E como referi, os bens circulavam: bastava um casamento para, digamos assim, arruinar uma família por várias gerações.
As pessoas sentiam-se seguras e, portanto, não estavam tão agarradas aos seus bens. Não andavam ansiosas nem ficavam zangadas perante obrigações tradicionais que as despojassem desses bens. Enquanto fui criança não notei que existissem questões por causa da terra. As questões, poucas, tinham a ver com a irrigação durante os últimos meses do tempo seco, em setembro e outubro, um período em que a água tinha de ser racionada.
E ninguém passava necessidade. Ou melhor, havia uma altura do ano em que todos nós passávamos alguma fome: as últimas semanas de janeiro e as primeiras de fevereiro, enquanto não chegavam as primícias, podiam ser de privação. Isto porque a conservação dos alimentos era difícil durante a estação das chuvas. Nós conseguíamos conservar arroz, milho e outros alimentos secos, até mesmo carne, mas não por muito tempo. Mas comíamos pouca carne, a qual era para os dias de festa.
A distribuição da água, um assunto nada fácil, é um exemplo da confiança e colaboração que então reinavam. Naquela época, o reservatório mais importante para as famílias de Uaidora, aquele que abastecia os seus quintais, estava junto da fonte Uaidora e era o resultado de uma represa feita pelos primeiros habitantes da aldeia. Os vegetais das nossas hortas, desde o milho à batata-doce, dependiam inteiramente dessa água. Mas à medida que a estação seca ia avançando, o caudal da fonte ia diminuindo e por isso, entre junho e novembro, o reservatório era fechado ao anoitecer e ficava a encher durante toda a noite. Depois, a água assim acumulada cabia alternadamente às famílias para ser gasta durante o dia.
Eram os interessados que deviam tomar conta do reservatório na noite que lhes dissesse respeito. Claro que, à medida que os meses secos iam passando, a água era cada vez mais escassa, ao ponto de que a hora a que o reservatório era fechado se poder tornar num objeto de disputa. E em certos anos a chuva tardava.
Mas esse não era sequer o problema mais melindroso. Acontecia que, para além de regar as hortas de todas as famílias, a água do reservatório era também precisa para irrigar os arrozais de algumas famílias. O cultivo do arroz é feito na estação das chuvas, mas no tempo seco nós aproveitávamos os arrozais para outros cultivos. Em Uaidora existem dois lugares preparados para serem arrozais. Um deles chama-se Lariguia, é extenso e está situado ao longo da ribeira, nos vales a sul da aldeia, já perto do suco Bualale. O outro chama-se Larígua e ocupa os socalcos logo abaixo da própria aldeia, perto de Ailímissi, Uatulalu e Quetamutu. Ora a água de fonte Uaidora era precisa para regar apenas os arrozais de Larígua pois existiam outras fontes que abasteciam Lariguia, mais longe, nos vales. E algumas famílias tinham os seus arrozais em Larígua enquanto outras os tinham em Lariguia. As de Larígua dependiam inteiramente do reservatório da aldeia para irrigar os seus campos durante o tempo seco, ao passo que as de Lariguia não dependiam.
Uma vez que a água do reservatório não estava a ser usada apenas para regar as hortas, podia acontecer que, a partir de agosto ou setembro, essa água não chegasse às hortas. Uma situação de assimetria como esta poderia noutros casos ter causado invejas e querelas e o que é admirável é o facto dessas querelas serem raras. As pessoas conheciam-se umas às outras e confiavam no bom-senso dos avós para distribuírem a água com justeza.
Para nós, crianças, os meses de seca eram uma festa, porque podíamos nadar no reservatório, coisa que no resto do ano era impossível. Durante a estação das chuvas, a ribeira transforma-se numa enxurrada e a água que jorra de fonte Uaidora é abundante, forte mesmo. Não permite nadar.
E havia partilha de terras ou outros recursos entre várias famílias? Não. Em criança nunca vi terras a serem partilhadas entre famílias e nem as pastagens ou florestas para lenha eram comunais. Em Uaidora não tínhamos sequer a noção do que pudesse ser uma posse comunitária da terra. Só mais tarde, já depois da independência, tive ocasião de conhecer organizações cooperativas onde a posse da terra era comum.
Aquilo que existia em Uaidora era cooperação, especialmente dentro de cada ordem e sempre dirigida a quem precisasse. Não era incomum, por exemplo, ver campos pertencentes a crianças, viúvas ou pessoas que tivessem de viajar, serem trabalhados por familiares. Existia também um sentido muito vivo do interesse comum e ninguém destoava: arrozal era para arroz, milheiral para milho, poupar é poupar, desperdiçar é desperdiçar. Na aldeia, o interesse comum não é abstrato, é real. Se alguém o pisa, ele ferra.
As famílias trabalhavam juntas e comiam juntas, três refeições por dia: de manhã cedo, ao meio-dia e à noite. Ninguém comia sozinho. E distraíamo-nos ou descansávamos juntos também. Na aldeia trabalha-se muito, mas o descanso é reparador, existem tempos de lazer e de convívio e temos abundância de festas: uma nova casa para inaugurar, algum casamento ou as várias celebrações tradicionais que duram pela noite fora. Lembro-me de que, naqueles dias, qualquer festa mobilizava o entusiasmo de todos, mas especialmente de nós, as crianças.
A festa maior era aquela onde, como contei, oferendávamos o primeiro milho. Antes de comermos o milho novo, fazíamos oferendas de galos ou galinhas. Só os homens podiam comer da oferenda e deviam usar as mãos para comer, sem prato, sem garfo nem faca. Juntavam-se na casa sagrada, o “lulik”. O nosso lulik era lindo, imponente, com o seu telhado esguio. Era parecido com aqueles que ainda restam no município de Lautém, mas era maior, mais elaborado e estava num lugar mais apropriado. Acredito que tivesse centenas de anos. Em criança, participei várias vezes nestas celebrações tradicionais, que na língua oficial de Timor-Leste, o Tétum, são chamadas “han hanhan lulik” (comer comida sagrada).
Um ingrediente que nunca faltava nas nossas festas era a luta entre rapazes para ver quem dominava. Era uma luta sem regras que, nos mais crescidos, se tornava vagamente parecida com o boxe tailandês onde se usam as mãos e os pés. Pode causar, e frequentemente causa, algum ferimento. Nas nossas festas, a luta era um exercício e uma diversão. Nunca vi que dessas lutas resultasse qualquer tipo de zanga, agressividade ou prepotência entre as crianças ou adolescentes. O meu tio Julião (primo direito de meu pai e meu futuro pai adotivo) participou a seu tempo em muitas dessas lutas e em geral com sucesso pois era destro e possante como poucos.
Falando de lutas, vou já adiantando que o meu avô materno, aquele que me criou, com quem vivi até aos 9 anos de idade e cujo nome próprio era Uatubada, foi muito conhecido e não pelas melhores razões. Era, segundo se dizia, lutador, matador e roubador. Foi preso três vezes por ter roubado búfalos e por ter matado pessoas. E mesmo na prisão voltou a matar. Quando ele ouvia falar de outro lutador, ia à terra dele e desafiava-o para uma luta. Depois de lutar, ele vencia e matava o adversário. Chegou a defrontar-se com campeões de Baucau e de Díli e a sua fama estendia-se até bem longe, como pode imaginar-se.
Para além das lutas, Uatubada também organizava excursões guerreiras a aldeias supostamente inimigas, onde, depois de vencida a resistência, ele pilhava os búfalos, cavalos e outros bens móveis que encontrasse, e trazia-os para Uaidora. Sim, em Uaidora a nossa tradição antiga incluía lutas de morte e a pilhagem de outras aldeias. Nesses tempos, quase todos os homens eram treinados para a guerra e estavam dispostos a matar e a roubar. Mas antes de se organizar uma surtida era preciso que a altura fosse declarada favorável pelo lulik. Chegado o dia da celebração tradicional das primícias, ao examinar o coração e o fígado da galinha que ia ser comida, descobríamos se a parte do inimigo era favorável para ele ou se, pelo contrário, a nossa parte era a favorável. Se as entranhas da galinha nos fossem favoráveis, então íamos logo guerrear sem mais atrasos; se fossem favoráveis ao inimigo, então não podíamos ir lutar. E como as entranhas dos galináceos tanto dão para uma coisa como para a outra, esse costume originou não poucas guerras e rapinas que felizmente já não são do meu tempo.
Com ou sem guerra, o costume de examinar as entranhas da galinha persistiu até hoje e eu ainda participei dessas refeições tradicionais. São sempre os idosos, os avós, quem fala com o lulik. E, portanto, são eles quem mata e abre a galinha. A galinha é primeiro morta por asfixia, colocando os dedos da mão na cabeça e pescoço para não a deixar respirar. Imediatamente a seguir eles abrem-na e veem o coração, o fígado e só depois se faz o cozinhado.
Que me lembre, este costume de examinar as entranhas não era acompanhado por costumes típicos de outras culturas animistas. Os nossos auspícios eram simples, conhecidos de todos, nunca eram factos chamativos que tivessem sido objeto de interpretação posterior; e não existiam pessoas especialmente designadas para serem os nossos augures.
As guerras e pilhagens foram coisas de outros tempos e envolviam aldeias longínquas, nunca os nossos vizinhos – que para nós eram como irmãos. Enquanto criança, eu nunca presenciei preparativos guerreiros. Apenas notei que os homens, especialmente os idosos, possuíam conhecimentos e destrezas que iam muito para além daquilo que a vida bucólica exigiria. A lança ou a azagaia, a faca de arremesso, até mesmo uma simples pedrinha do chão, eram, nas mãos deles, morte certa para um inimigo. No combate de perto, tinham a faca longa ou catana e a espada de luta ou sabre. Com um só golpe dessas armas eles decepavam um membro ou uma cabeça. No combate corpo-a-corpo eles usavam a faca curta e conheciam muito bem os lugares mais vulneráveis. Mas o corpo-a-corpo também era um desporto, que praticavam por gosto e depois exibiam durante as festas, como contei.
Ao longo da década de 1980, após o povo se ter batizado, o que porventura restasse da nossa velha tradição e conhecimentos guerreiros desapareceu. Mas já no meu tempo de criança a belicosidade havia perdido a sua antiga aura e o que mobilizava as pessoas era o desejo de melhorar a situação da aldeia, auferindo dos benefícios da instrução e reduzindo a mortalidade infantil. Existia cuidado com a higiene: os animais, por exemplo, nesse tempo não andavam à solta. Reinava uma certa ordem, imposta pelo meu pai, mas que vinha ao encontro da vontade de todos. A aldeia era mais limpa do que é hoje, talvez mais limpa do que muitas cidades de hoje. O lixo era pouco, desaparecia naturalmente, e não existiam plásticos nem água estagnada.
Para iluminação durante a noite usávamos o óleo que se extrai de um fruto chamado “sae”. A árvore é de grande porte e o fruto, depois de esmagado, liberta óleo. Há ainda uma outra forma de iluminação, uma planta como a do algodão com frutos pequenos. Depois de macerada e embebida no óleo de sae, e também devido ao seu próprio óleo, acende-se e dura bastante. Só recorríamos aos “Petromax” durante as festas. E em dias normais íamos dormir cedo, por isso não precisávamos de iluminação.
Enquanto fui criança, em Uaidora nunca entrou um português ou alguém com aspeto oficial. Desde que reinasse a paz, desde que as crianças estivessem a ir à escola e fossem vacinadas, ninguém se preocupava connosco. Pagávamos os nossos impostos (não sei quanto) e só trabalhávamos para nós mesmos.4 Depois de alimentados, o que acrescia era vendido em Quelicai, a povoação mais próxima, onde havia – e ainda há – um bazar que se realiza todas as quintas-feiras e domingos.
Quelicai é um centro urbano e sede do nosso posto administrativo, ao qual dá o nome. Está a pouco mais de uma hora a pé de Uaidora, a descer. À volta, por ser a subir, pode demorar-se duas horas, especialmente se voltamos carregados. Era aí que vendíamos os nossos inhames, batatas, bananas, ovos, galinhas e outros géneros; no tempo do arroz, também vendíamos uma pequena quantidade desse cereal. Com o dinheiro da venda, comprávamos sal, sabão de roupa e de banho, roupa já feita, utensílios pequenos e outras coisas. Éramos fregueses dos armazéns dos comerciantes chineses. Os utensílios maiores como enxadas, catanas e machados, eram feitos por nós em Uaidora. Havia um avô, que já morreu, que fazia esses utensílios, ou armas.
O dinheiro, em suma, era para prover necessidades que estivessem para além das nossas destrezas – e tais necessidades não eram muitas. Quando penso no nosso modo de viver, fico com a sensação de que as coisas e as pessoas se tornam mais interessantes quando as necessidades são poucas. Para nós, tudo era motivo de admiração. Em Quelicai, por exemplo, encontrávamos os missionários salesianos que viviam em Baucau, mas iam lá aos domingos e dias de festa; e lembro-me muito bem de ter visto o padre João de Deus antes da invasão.
Poucas famílias eram cristãs no início dos anos 70. Na nossa aldeia, talvez umas duas e, que me lembre, só quatro pessoas eram batizadas: Agostinho, Sebastião, Marcelo e Paulo. As restantes famílias eram, como nós, animistas e usavam nomes gentios.5 Porém, talvez desde o tempo de meus avós, o cristianismo deixara de ser novidade na aldeia.
Com quatro ou cinco anos de idade tornei-me alpinista dos coqueiros. Eu, o Mário e a sua irmã Agostinha, trepávamos os 10 ou mais metros que os coqueiros podem ter, só para nos deliciarmos com os frutos novos ou para beber a água de coco.
Isto de trepar por uma palmeira acima não é coisa que todos consigam ou desejem fazer, mas nós os três gostávamos.
Os pais do Mário e da Agostinha possuíam mais de 10 coqueiros espalhados pelos seus quintais e os meus avós tinham outros tantos. Amigos nossos como o Labilui e o António, irmão dele, nunca aprenderam a trepar às árvores e nem gostavam desse tipo de exercício. O Labilui, é claro, tinha a desculpa de ser cego, mas a verdade é que quando o Labilui queria mesmo fazer uma coisa, ele fazia-a tão bem como nós ou melhor.
O António e o Labilui não se habituaram a trepar, talvez porque os coqueiros dos pais deles ainda eram novos e também porque não precisavam: nós sempre os convidávamos para virem comer e beber dos nossos cocos.
Apesar dos deveres, quase todos os dias conseguíamos juntar-nos para brincar e a brincadeira muitas vezes incluía alpinismo. Outros primos que viviam perto, como o Francisco Xavier1 e o Jeremias Luís2 tinham coqueiros nos quintais mas nunca quiseram aprender a trepar. Quando desejavam beber, vinham a nossa casa e aí todos comíamos e bebíamos juntos.
Na aldeia, coqueiro é para criança. Homem não bebe água de coco. Homem bebe “tua mutin” (vinho de palma).3 Naquele tempo, em Uaidora produzia-se uma excelente variedade de tua mutin, mais perfumada e rica do que o vinho de palma comum, já de si bastante popular em Timor-Leste. O tua mutin não pode faltar numa festa ou outra ocasião especial e vinham pessoas a Uaidora, mesmo de longe, só para comprarem do nosso “mabuti”, que é como se chama o tua mutin na minha língua materna.
E é claro, nós não guardávamos o vinho apenas para ser vendido a forasteiros: era também consumido na aldeia. Todas as tardes ao pôr do sol, certos homens idosos ou de meia-idade encontravam-se para beber mabuti. Trabalhavam durante o dia, mas ao anoitecer bebiam e conversavam. Estes grupos de conversadores-bebedores tinham sempre 3 ou 4 pessoas ou até mais; e algumas vezes, enquanto bebiam, arranjavam zaragata.
Quando surgem zangas, o problema pode resolver-se dentro de cada ordem. Reconhecer que se fez errado implica a oferta de três “tais”4 ao ofendido, mais a reparação do estrago se houve algum. Já um desacato implica multa maior: porco, cabra ou mesmo búfalo ou cavalo, o que é castigo grande. Pode também recorrer-se ao chefe da aldeia, mas, em geral, ele não está disponível para interferir nestas matérias. Só se a zanga foi grande e acabou em violência. Então, o chefe da aldeia faz queixa no posto de Quelicai.
Mas crime, no meu tempo de criança, foi raro. Aquilo que todos sabíamos era que, por detrás das zangas e desacatos, estava quase sempre o mabuti. Talvez por essa razão, alguns homens, especialmente os mais jovens, não tocavam no mabuti nem frequentavam os lugares de encontro e consumo desse vinho. Ficavam em casa com a família e se bebiam era com eles ou ocasionalmente no próprio lugar onde se cultivavam as palmeiras.
De facto, o melhor lugar para beber o vinho de palma é junto à palmeira que o produz. O cultivador sobe à árvore (que na minha língua materna tem o nome de “mameta”), faz as incisões e instala os tubos de bambu que servem de reservatório. Quando ele desce, já os outros estão à espera. E todos começam alegremente a beber aí mesmo, à medida que o líquido vai ficando disponível.
Alguns bebedores trazem consigo comida feita para acompanhar o vinho de palma, comida a que chamamos “caidane”. O caidane pode consistir em frutos cozidos ou talvez carne cozida, conforme o que se tem. Alguns dos bebedores fazem muita questão em terem sempre o melhor caidane, aquele que leva carne.
O Aleixo, um parente nosso, nunca parava de beber. Ele podia deixar de comer um dia inteiro, mas não conseguia deixar de beber. Se não tivesse mabuti passava a noite à procura até encontrar. Considero o Aleixo como meu parente porque nas duas aldeias, Uaidora e Manumé, quase todas as pessoas são parentes. Conheci-o muito bem, e ao pai dele. Foi simpático para comigo quando eu era pequenino e em parte foi por causa dele que eu, com cinco ou seis anos de idade, me estreei como bebedor de vinho de palma.
O Aleixo podia ficar debaixo da palmeira a beber e a comer com os amigos durante horas seguidas até à meia-noite – e só depois voltava para casa. E eu, que tinha toda a liberdade do mundo, também algumas vezes me juntava a eles debaixo da árvore. Como havia muitas mameta em Lurituni, a sul de Uaidora, nós íamos lá para beber e comer. Lurituni, essa nossa taberna, fica perto de Guninê, uma fonte sagrada, já na fronteira com o suco Bualale (Figura 2.1), para baixo e para sul, perto da ribeira. A água que escorre de Guninê é sagrada, o vinho de Lurituni não é; mas foi mais fácil curar-me do feitiço da água, como contarei, do que do feitiço do vinho.
Comecei a beber em 1973 ou 1974. O meu tio Tomás Aquino, irmão da minha mãe,5 era um dos cultivadores de mabuti da região e, como contei, havia gente que vinha a Uatulalu só para lhe comprar vinho ou para beber mesmo ali. Foi com o tio Tomás Aquino que aprendi a cultivar mabuti.
Para se obter vinho de palma é preciso gastar tempo e trabalho a tratar da palmeira e é depois preciso reconhecer a altura em que ela está pronta a produzir. Observando os frutinhos que se encontram em cachos na ponta dos galhos, cortando alguns deles e fazendo outras pequenas incisões nos galhos, é possível levar a palmeira a produzir vinho e é também possível descobrir quando está pronta a produzi-lo. Fazem-se então os preparativos para recolher o vinho dentro de recipientes feitos de bambu, os quais são colocados na palmeira para esse efeito.
As lições que recebi do tio Tomás Aquino vieram a ser úteis depois, mas nessa época não era apenas o desejo de aprender que me movia: lembro-me de, após uma dessas lições, eu ter bebido 7 copos de mabuti seguidos – e ainda hoje tenho uma cicatriz na mão por ter ido colher mais mabuti e ter cortado errado, em cima da minha mão em vez de ser na árvore. Isto aconteceu perto de casa, em Uatulalu.
Confesso que aprendi a cultivar mabuti porque quem quisesse beber, ou pagava ou então precisava de conhecer a forma de tratar e acompanhar as palmeiras até estarem em condições de produzir vinho. De entre nós, o Jeremias Luís, o Francisco Xavier, o Mário, o Labilui, o António, quase com as mesmas idades, fui eu o único que ganhei essa destreza – e o respetivo vício. Era também eu quem mais liberdade tinha. Fazia o que queria.
Um dia, o tio Tomás Aquino disse-me: “Já começaste a beber tua mutin – e muitos copos! Então, quando chegar o teu tempo de ir para a escola, nunca vais estudar e vais escapar da escola. Só vais querer beber mais e mais tua mutin!” Esta advertência produziu o seu efeito porque eu via muito bem o que estava a acontecer com o Aleixo e também porque todos nós esperávamos impacientemente pelo dia de irmos para a escola. Mas não era preciso meu tio preocupar-se: em face do que nos sobreveio, a minha desintoxicação aconteceu naturalmente.
Naquele tempo a principal dúvida ou apreensão que nos afligia era saber a idade. Ou melhor, aquilo que nos preocupava nem era tanto saber a idade, mas sim saber quem era o mais velho e quem era o mais novo. Penso que eu devia ter a mesma idade do Labilui, mas por outro lado talvez não, talvez ele tivesse um ou dois anos mais do que eu porque, quando fazíamos uma luta, ele ganhava. À falta de melhor informação, avaliávamos a idade relativa de cada um pelo resultado da luta. A regra é: ganham os mais velhos.
Quando o Labilui e eu lutávamos, ele era mais forte. Mas nada é simples porque, passados uns anos, talvez por ele ser cego, passei eu a ganhar. Aos outros eu sempre ganhei e por isso devo ser o mais velho. Penso que o Francisco Xavier terá mais idade, um ou dois anos, porque ao princípio ele dominava-me. Mas depois, passado uns tempos, dominei-o a ele também e por isso talvez seja eu o mais velho afinal. O Mário é mais novo de certeza porque nunca me conseguiu vencer; e o Jeremias Luís nunca quis lutar comigo, mas, segundo os pais, ele era poucos dias mais novo do que eu.
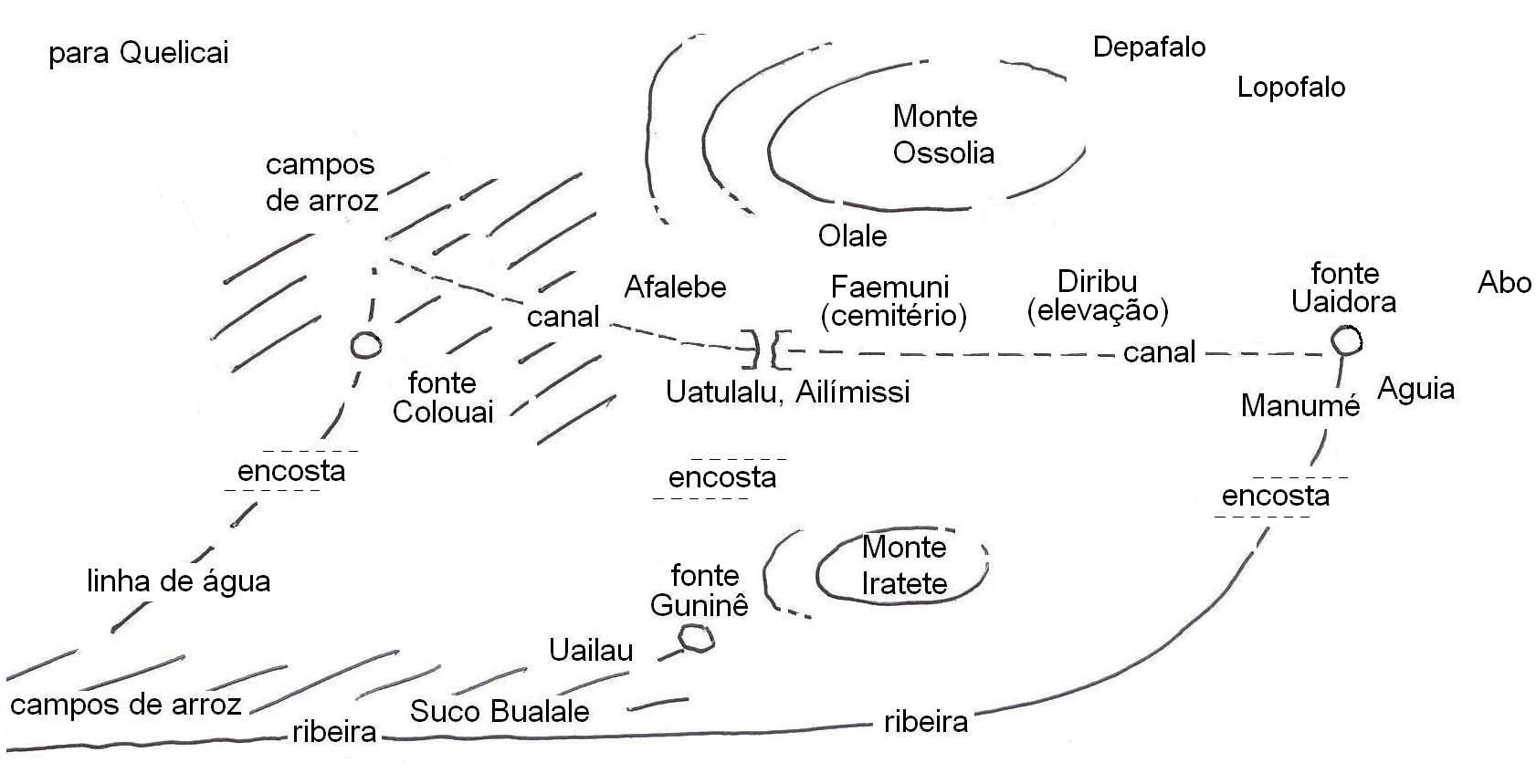
Os pais do Jeremias Luís contaram-nos que eu e ele nascemos com uma diferença de dias. Só não se lembram de qual foi o ano e o mês! Nem sequer são capazes de dizer se nascemos na estação das chuvas ou na estação seca. Nada. Os pais não ligavam a essas datas e isso vexava-nos bastante. Sentíamo-nos menos importantes, era como se nos faltasse alguma coisa. Já não nos contentávamos com o facto de existirmos. Reconheço que a ignorância sobre a idade tem as suas vantagens: quando, por exemplo, alguém era derrotado na luta ou num jogo, havia sempre espaço para a dúvida – podia ter perdido por ser mais novinho. Sim, o Mário era de certeza uns anos mais jovem do que eu e isso explica tudo.
Quando, ao longo desta narrativa, eu mencionar a minha idade, deve entender-se que não estou a usar como referência a data de nascimento que consta da minha certidão de batismo, novembro de 1969, mas a data real do meu nascimento, dois anos antes. Estou convencido de que devo ter nascido por volta de 1967 ou mesmo 1966, pois não é normal que uma criança se lembre, como eu me lembro, de acontecimentos que se deram em 1971 e 1972 quando supostamente teria apenas dois ou três anos. Por exemplo, o pai do Mário e da Agostinha morreu cedo, talvez em 1971 ou 1972 e embora fosse muito pequeno segundo a certidão, lembro-me do pai deles quando ainda estava vivo e lembro-me de o ter visto morto.
Nos anos de 1972 ou 1973 eu já trepava pelos coqueiros acima, coisa que uma criança de três anos não faz. E em 1973 ou 1974 já ia a Quelicai vender inhames, batatas, mandioca, bananas e outros frutos. Da minha casa em Uatulalu a Quelicai ainda é uma hora a andar e o meu carregamento devia pesar uns 5 quilos. Foi em 1974 que comecei a cultivar mabuti por minha conta e a bebê-lo. Por último, a minha irmã Gabriela morreu em 1971 ou 1972, e a idade dela era mais ou menos 3 ou 4 anos quando morreu. Por tudo isto eu calculo que deva ter nascido no ano 1966 ou, no máximo, 1967 e que, por altura da nossa fuga para a montanha em 1976, eu tivesse uns 9 ou 10 anos de idade.
Os nossos pais não ligavam às datas de nascimento. É talvez mais correto dizer que eles não sabiam sequer o que eram datas. Não distinguiam os dias do mês, os meses do ano e um ano do outro. Eles só se interessavam em reconhecer o tempo da chuva e o tempo seco e eram capazes de descobrir quando uma dessas estações estava próxima. Eu ainda me lembro dos meus tios e avós me explicarem que, consoante o nascer do Sol fosse em cima da montanha Feto ou Mane, assim a chuva ou o tempo seco estavam a chegar. E liam sinais nas árvores ou em pássaros, que também lhes mostravam o tempo e mesmo o clima. Eles, na verdade, sabiam tudo aquilo que precisavam de saber, nem mais nem menos; e viviam ao sabor dos acontecimentos, não do relógio.
Agora que conheço a vida tal como o relógio nos dita, eu tenho saudades dessa outra vida sem relógio e sem idade. Era mais intensa, mais bem aproveitada. O relógio obriga-nos a esperar, é uma perda de tempo. A propósito, o primeiro relógio que vi foi em Quelicai, talvez em 1972, e estava na mão de um funcionário. Nós, as crianças, não perdíamos nenhuma novidade, nada.
Já que falei de Quelicai, devo declarar que tenho a cicatriz da vacina e, portanto, está tudo em regra com a minha saúde. As crianças comentavam entre si o assunto da vacinação e olhavam para a altura em que iam ser vacinadas com alguma apreensão. O medo do desconhecido levava-nos a alimentar dúvidas sobre a quantidade de dor que uma vacina nos iria causar. Alguns garantiam que essa dor era lancinante.
Fomos vacinados no ano de 1972 ou 1973. As crianças que estavam à minha frente na fila, muito antes da picada já choravam e gritavam de medo. Eu vi a minha vez chegar e pensei que talvez fosse chorar também. Convenci-me de que a vacina tinha por força que causar dor e era por isso que as outras crianças choravam tanto. Mas quando chegou a minha vez não senti muita dor e então não chorei. Fiquei um pouco desiludido, talvez, porque estava à espera de qualquer coisa nova, única, e afinal não aconteceu nada.
A vacina acabou por tornou-se, para mim e para os meus amigos de infância, mais uma maneira de estimar a idade. Segundo alguns idosos, as crianças eram vacinadas aos 7 anos e eu também sei que nós, as crianças de Uaidora e de Manumé, ainda pertencíamos ao suco Bualale quando fomos vacinadas. Ora as nossas duas aldeias mudaram de suco, de Bualale para Letemumo, no ano de 1973. Portanto, conclui-se que antes de 1973 eu já teria 7 anos. É curioso como dados sem importância e sem consequências de nenhum tipo, são capazes de nos preocupar tanto.
Mas voltemos àquela época feliz. O Labilui era simpático e sempre me procurava para brincar. Nunca me esquecerei dos seus poderes. Quando nos encontrávamos, ele conhecia todos pela voz; mas houve uma vez em que tentei descobrir se ele era capaz de nos reconhecer sem ouvir a nossa voz e verifiquei que o Labilui sabia quando alguém estava por perto, mesmo sem o mínimo barulho; e também reconhecia pelo tato: bastava ele tocar num de nós para cumprimentar chamando pelo nome. E fazia isso com vários outros. Na realidade, quando estava num lugar que fosse conhecido dele, o Labilui não parecia cego, e muito enganado andaria aquele que quisesse aproveitar-se da sua cegueira.
Travessuras? As que quiser! Um dia, em 1972 ou 1973, o António, irmão mais novo do Labilui, chamou-me para irmos os dois roubar os amendoins que os pais dele tinham plantado. A plantação era nova, já tinha começado a despontar, mas não havia ainda nada para comer. Por isso, só conseguimos estragar amendoins sem proveito para ninguém. Não foi muito, dois ou três pés, mas era um desperdício.
Quando estávamos entretidos nesse lindo serviço, o pai dele avistou-nos e fugimos. Corri o mais rápido que consegui e refugiei-me num quintal dos meus avós; mas o pai do António capturou-o (ele era mais novinho), levou-o para casa e foi rígido e duro: bateu-lhe e depois pô-lo de castigo por baixo da sua casa (a casa tradicional é elevada em relação ao chão). Vi o meu amigo António a gritar e a chorar. O pai dele também se aproximou de mim com muita vontade de me castigar, mas não fugi. Fiquei onde estava porque aquele que castiga filho de outro, ganha zanga; e quem estava a fazer de meu pai não era um pai qualquer, era o Uatubada.
Sim, fui uma criança livre e protegida desde longe pela fama e pela liberalidade do meu avô. Eu via como o Mário e a Agostinha pediam sempre autorização à mãe deles antes de irem colher os frutos dos coqueiros ou outros. Eu, pelo contrário, trepava aos meus coqueiros quando me apetecesse. Em casa éramos só eu e meus avós; e eles, sendo de outra época, preferiam deixar-me solto. Educavam-me como os tinham educado a eles. Portanto, eu fazia o que queria, chegava a casa quando me apetecia, meus avós nunca me impediram – e nem se preocupavam. Eu estava à vontade com eles, contava-lhes as minhas pequenas aventuras e nunca os enganei nem escondi nada deles até morrerem. Confiava assim, não precisei de aprender a desconfiar.
Se eu era feliz? Sim, muito! Não apenas eu. As crianças eram felizes, nós não sabíamos o que era sofrer. Nada nos era custoso porque, com ou sem cansaço, fazíamos o que todos tinham a fazer e ainda sobrava tempo para brincar. Tudo nos admirava, tudo nos divertia, éramos rápidos, observadores e tínhamos boa memória. E éramos amigos uns dos outros, sem reserva, sem inveja.
Não passávamos necessidade e a comida raramente faltava, mas quando faltava, faltava a todos. Doença não havia. A malária estava controlada e, naquele clima de planalto, nunca fora frequente. Excetuando a mortalidade infantil e a maldade humana, nada perturbava a nossa alegria. E, para nós, essas duas desgraças estavam ligadas pois, segundo a tradição, numa família onde não reinasse a harmonia, as crianças morriam novas. Era o caso dos meus pais, que se zangavam com frequência (vi o meu pai maltratar a minha mãe por duas vezes), daí que algumas crianças lhes tivessem morrido. A minha irmã Gabriela, que nasceu logo a seguir a mim, foi uma dessas. Morreu por ter ido à fonte Colouai (Figura 2.1) onde as crianças não podem ir beber.
A mim esteve para acontecer o mesmo. Um dia, talvez em 1970 porque era ainda muito novinho, pediram-nos, a mim e à Madalena (irmã mais velha do Mário e da Agostinha), para levarmos o almoço aos tios que trabalhavam no arrozal lá em baixo, junto da ribeira, em Maucaileu, quase já no suco Bualale. Levar o almoço era uma tarefa típica de criança pequena. Desde a casa dos avós até Maucaileu gastam-se uns 45 minutos a descer, mas para voltar gasta-se mais de uma hora porque é tudo a subir. No regresso, nós passámos pela fonte Guninê que fica no planalto de Uailau, a meio da subida (figura 2.1) e resolvemos tomar um banho no charco adjacente sem nos lembrarmos que Guninê é “faluno”.
Na minha língua materna, o Macassae, faluno é o mesmo que lulik. Quando eu e a Madalena regressámos a casa, ainda nos sentíamos bem. Mas a meio da noite comecei a gritar. Tinha uma ideia fixa na cabeça, uma espécie de delírio. Gritei e gritei muitas vezes enquanto os avós vigiavam e tentavam refrescar-me. Aquilo que eu gritava era para a Madalena não capturar o meu cãozinho preto, não o levar para casa dela. Esse cãozinho pequenino era meu e andava sempre comigo, mas a Madalena tentou várias vezes apanhá-lo. Daí a gritaria, na qual eu pedia à Madalena para não fazer mal ao meu cãozinho preto. Convenci-me de que, caso a Madalena conseguisse capturar o meu cãozinho e levá-lo embora, eu não conseguiria viver mais e teria por força de morrer.
No dia seguinte de manhã já nem me conseguia levantar da cama e sentia-me muito mal. Segundo a nossa tradição, o que há a fazer nestes casos é pagar ao espírito, o dono daquela fonte, “lulik nain”, para que ele liberte a alma que aprisionou. Por isso, o meu avô preparou materiais com formas atraentes, como se fossem feitos de ouro (símbolos como o “belak”6) para oferendar ao dono daquela fonte. A seguir foi a Guninê, oferendou esses materiais e trouxe para casa água e algumas pedrinhas da fonte. A ideia era trazer de volta a minha alma caso o faluno concordasse em libertá-la em troca dos presentes.
Ao chegar perto de casa, o meu avô atirou as pedrinhas à parede e perguntou-me: “Já estás aí?” ao que eu naturalmente respondi: “Sim, estou aqui, na cama.” Então ele entrou e deu-me a beber a água que tinha trazido de Guninê. Foi desta maneira que fizemos a doença desaparecer. A Gabriela não teve a mesma sorte.
Fui outras vezes aos arrozais de Uailau, mas nunca mais me aproximei de Guninê sendo criança! Quanto à Madalena, depois da invasão não voltei a vê-la. Ouvi dizer que está bem e vive num lugar do suco Samalari de Baucau, mais a norte.
Guninê é uma fonte considerada sagrada pelo povo de Uaidora e do suco Bualale. Para que ninguém vá passar por lá desprevenido, aviso que Guninê está no planalto de Uailau, perto de Iratete. Iratete é uma pequena elevação. A nascente, em Uailau, é onde ficam alguns terrenos de meus pais, de meu tio Manulaua e de meu primo Óscar. Iratete ainda pertence à aldeia Uaidora, mas Uailau é grande e por isso a parte mais a baixo já pertence ao suco Bualale (Figura 2.1).
Atenção, porque os donos das fontes não implicam apenas com crianças. Minha mãe também não pode ir a Guninê sob pena do faluno capturar a alma dela. Segundo os meus avós, as pessoas com pele mais branca, especialmente crianças e mulheres, não podem passar perto dessa fonte; mas podem beber quando lhes levam dessa água. A alma de minha mãe foi por várias vezes capturada pelo faluno de Guninê e quando isso acontecia ela também ficava muito doente. Nessas ocasiões os avós iam sempre pagar ao faluno para ele devolver a alma a minha mãe e assim, em menos de um dia, ela ficava curada.7 Para além de o terem feito comigo e com a minha mãe, também o fizeram com irmãos e primos meus. Mas nem sempre os donos das fontes aceitaram os presentes.
Espero ter contado o suficiente sobre estas tradições, as quais podem ser interessantes para os estudiosos, mas não explicam o que é a vida na aldeia. Nós não vivíamos ao sabor de lendas, nem no terror dos espíritos. A nossa preocupação era a subsistência. E depois de esta assegurada, todos os recursos e tempo que sobrassem eram usados para nos divertirmos.
Para perceber a vida numa aldeia é preciso ter a noção daquilo que é decisivo. Comer é decisivo porque sem comida morre-se. O perigo de se passar fome ou mesmo de se morrer à fome é real e só é evitado com o esforço de todos. Esse esforço, para além do cultivo da terra, inclui outro cultivo, o da amizade com os outros, especialmente dentro da mesma família e ordem. Sem amizade não há ajuda entre as pessoas e quando deixa de existir ajuda, quando cada um, por pânico ou por outra razão qualquer, começa a cuidar só de si – como aconteceu durante os primeiros anos da nossa deportação – então todos morrem à fome e quem primeiro morre é essa pessoa que resolveu cuidar de si próprio apenas.
Perceber a vida numa aldeia implica também entender a razão pela qual várias famílias se juntam. A ajuda entre as pessoas da mesma família é vital para o seu dia-a-dia, mas não chega para assegurar o futuro. Sem uma aldeia, é difícil amparar a velhice, criar filhos e viver em segurança. A aldeia traz consigo um mínimo de dimensão e uma organização, cultura e costumes próprios, portanto uma vida prazenteira onde o futuro não é tão incerto e há lugar para a felicidade. Na aldeia, o trabalho é intenso, sim, mas o descanso e a diversão são ainda mais intensos porque o futuro não nos mete medo.
Segundo uma das lendas prediletas dos habitantes da cidade, eu teria passado a infância num lugar paradisíaco onde bastaria estender a mão para colher um fruto; onde as pessoas se dedicariam a gozar dos prazeres da vida enquanto a natureza se encarregava de lhes dar comida. Isso não passa de uma fábula. Veja-se o nosso caso: Uaidora e Manumé têm um clima regular e sem tufões nem febres, com terra alagada para o arroz e terra seca para o milho, terra onde crescem todo o tipo de legumes e frutos, com água corrente, lenha, florestas ou pastos nas encostas. E temos bananeiras, claro, e coqueiros ondulantes... Sim, Uaidora e Manumé são o paraíso tropical inventado na cidade; mas quando a aldeia foi impedida de funcionar, os mais vulneráveis (crianças, velhos, doentes, pessoas com limitações) morreram, mesmo em famílias unidas. O paraíso não está na benignidade da natureza, mas na capacidade de sobrevivência que a aldeia proporciona.
Por sua vez, a capacidade da aldeia para dar aos seus habitantes aquilo de que precisam vem com a dimensão e a dimensão depende da natalidade, cujo pior inimigo, a mortalidade infantil, era, no meu tempo, capaz de pôr em causa a sobrevivência duma comunidade.
O meu pai deixou a sua primeira mulher por dela não ter tido a descendência que esperava e tomou uma segunda mulher, minha mãe. Ter descendência justificava o repúdio, mas a mulher repudiada continuava a ser sustentada pelo marido. Por isso, ao separarem-se, meu pai dividiu os seus quintais e construiu uma nova casa, para que a mulher que ia deixar tivesse meios de vida.
Na medida em que manter o povoamento a um nível mínimo não era fácil, casar, ter filhos e criá-los era uma obrigação, tornada pública e solene por meio de festas e cerimónias tradicionais, às quais se juntava o dote, que funcionava como uma garantia de perseverança e também, diga-se, como forma de redistribuir riqueza.
Na aldeia, o casamento implicava e ainda implica a entrega de património à família da noiva. O valor desse dote não é impossível de atingir, mas também não é fácil de amealhar: exige sacrifícios e é nesse sentido que funciona como garantia. O dote mais comum consiste em 7 a 10 búfalos, mas há exceções: casar com a filha de um rei obriga ao pagamento de muitos mais búfalos! Abaixo da realeza, porém, as pessoas são vistas como sendo todas iguais e o dote varia pouco. O dote, por sua vez, é apenas o início de uma série de pagamentos devidos pelos futuros descendentes à família da noiva, pagamentos esses que se prolongam por três gerações.
Pela mesma necessidade, a de rodear o casamento de responsabilidade, na aldeia, as regras que se aplicavam à relação entre os sexos eram claras e simples: homem não anda com mulher que não seja a sua. O à-vontade sexual que se observa na cidade é, como alguém observou, um luxo de gente que nunca teve de se preocupar com a sobrevivência da coumnidade.
Perceber a vida numa aldeia implica por último reconhecer que a organização não assenta na autoridade de um chefe, mas no poder impessoal dos costumes, os quais, pelo facto de não estarem escritos, não deixam de ter solidez e força. O chefe da aldeia Uaidora, meu pai, em nada se diferenciava das outras pessoas. Dava cumprimento às instruções vindas do suco ou do posto administrativo e exigia limpeza, escolaridade, saúde, impostos e tudo o mais que fosse da aldeia para fora. Da aldeia para dentro, eram os avós quem resolviam entre si o que fosse preciso segundo o costume. Distribuíam heranças, apontavam responsabilidades, aplicavam multas e presidiam alegremente às muitas festas e cerimónias.
Como chefe da aldeia, o meu pai ia com regularidade ao suco e a Quelicai, à sede do posto administrativo, para trabalhar com a administração. Lembro-me de que nessas alturas os nossos tios vinham ocupar o lugar dele no arrozal. Mas para além de ser um membro da administração, o meu pai foi um líder: desejou coisas boas para Uaidora, especialmente instrução e acessos. O seu sonho (e também o de meus tios) era o ensino das crianças. Em Bualale, um suco vizinho do nosso, há muito que já existia uma escola onde se ensinavam o Português e os números. Mas não era cómodo para as crianças de Uaidora, especialmente as mais novinhas, percorrerem essa distância todos os dias, por montes e vales. Por isso, o meu pai e os meus tios não descansaram enquanto não arranjaram um professor.
Em 1975, devia ter eu uns oito anos de idade, eles conseguiram trazer um professor primário para a aldeia. A partir de então, para nossa grande alegria, passámos a ter aulas todas as manhãs. Ainda me lembro de palavras portuguesas como “cabeça”, “mão” e de cantigas: “Cavalo cavaleiro me corta meu cabelo” ou “Quinta-feira é dia de formatório”, sempre cantadas no mesmo tom. Ninguém precisava de nos incitar, aprendíamos com voracidade tudo que nos quisessem ensinar. Para as aulas, juntavam-se em casa de meus pais umas 30 crianças, não apenas de Uaidora, mas também da aldeia vizinha, Manumé.
Uaidora e Manumé são como irmão e irmã: estão juntas e os seus habitantes permanecem unidos mesmo quando têm de fugir ou quando são deportados. Manumé é a sul e a nascente de Afalebe, depois de passar pelo cemitério, que está num lugar chamado “Faemuni”, e a seguir a uma pequena baliza ou elevação.
Nunca mais aprendi Português. Estávamos a poucos meses de perder a paz, os haveres e, muitos de nós, a vida. Pior, estávamos a poucos anos de perder tradições, organização social, autonomia e união entre pessoas. Hoje, passados tantos anos, a nova escola primária de Uaidora está em Afalebe, bem perto do lugar onde existiu essa primeira escola; e todo este nosso desejo de aprender deu frutos, como hei de contar.
No lugar onde esteve a casa dos meus pais e onde tivemos as primeiras lições, bem no centro de Uaidora, a minha família cedeu um terreno para se construir uma capela.8 Segundo me contaram, o Bispo D. Carlos9 veio de propósito e dormiu uma noite em nossa casa, mas não sei se terá também celebrado missa.
Uaidora é um miradouro natural de onde se pode avistar toda a região circundante para poente e norte até ao mar (Figura 3.1). Num belo entardecer, teria eu uns oito ou nove anos de idade, e estando nós entretidos a brincar, vimos no mar um grande concurso de barcos que pareciam convergir para a baía de Laga, a nascente e abaixo de Baucau. Traziam luzes brilhantes e faróis que riscavam o céu.
No dia seguinte de manhã cedo, vieram os aviões, muitos. Desde aquele ponto alto, nós víamos os paraquedistas a descer sobre Baucau, a nossa sede de município. Era o dia 9 de dezembro de 1975 e estava em curso a invasão de Timor-Leste.
À tarde vieram dizer-nos que Díli, a capital, fora ocupada no dia anterior. Contaram-nos também que, em Baucau, os paraquedistas tinham sido mortos pelo povo: eles não conheciam os caminhos, perdiam-se uns dos outros e eram apanhados um a um. Disseram-nos por último que as nossas forças armadas estavam a resistir à invasão. Os barcos que tínhamos avistado ao anoitecer pareciam agora rodear e apertar Laga. De facto, os invasores ocuparam Laga e daí estavam a dirigir-se para Baucau, a poente, e também para Quelicai e para o interior, a sul.

A partir dessa data começaram os bombardeamentos com artilharia da marinha. Onde caísse um daqueles enormes obuses ficava tudo desfeito. Num raio de dezenas de metros morriam árvores, animais ou pessoas. Os inimigos disparavam sem sentido, de dia e de noite, e iam atingir Quelicai, Baguía, Uatucarabau e mesmo Uatulari já perto da costa sul (Figura 10.1). Em Quelicai morreu gente na explosão desses obuses. Também se encontravam vestígios do disparo de outro tipo de arma com munição como se fosse a da metralhadora, mas muito maior e mais forte.
Devido à resistência oferecida pelas nossas forças armadas e também por não existirem boas estradas, o avanço do invasor em direção sul, para o interior, foi lento. Em finais de 1976, um ano depois de porem o pé em Laga, os invasores ainda nem tinham conseguido chegar ao nosso posto administrativo.
Entretanto nós, as crianças da escola, havíamos trocado as lições de Português por outro tipo de aprendizagem. Meu pai e tios preparavam a resistência e ninguém ficava de fora. Nós, para além de ajudarmos a levar materiais de construção e mantimentos para a montanha, também aprendemos a disparar flechas, azagaias (lanças de arremesso), afiar espadas e facas e lançar facas de arremesso. Como é fácil de imaginar, nessa época as pessoas mais idosas de Uaidora ainda eram um repositório desse tipo de destrezas e de outras mais mortíferas, como o manejo da espada de luta ou sabre, não acessíveis a crianças por exigirem força muscular e treino.
Ficámos bastante bem preparados: eu e os meus companheiros, conseguíamos colocar uma frechada onde nos apetecesse a uma distância boa. E a poucos metros podíamos ferir gravemente ou mesmo matar com a faca de arremesso ou com uma azagaia. São lições que não se esquecem. Ainda hoje sou capaz de enterrar a faca onde quiser. Não é que me sirva de muito, um sacerdote da Igreja Católica não atira facas.
Semanas após o início da invasão, Rosalina, a irmã da minha mãe, veio para casa de seus pais em Uatulalu e ficou a viver connosco. Trouxe consigo a família: o marido, tio Virgílio, e os dois filhos que então eram vivos, Manuel e Ventura.1 Até ao início da progressão do inimigo desde Laga para o interior, eles viviam em Buruma, no suco Bualale.
O tio Virgílio ausentava-se durante dias ou semanas para se juntar aos que tentavam deter os invasores. Ele ia guarnecer a área de Quelicai pelo lado dos sucos Abafala e Uaitame, a norte. Nesses dias, o inimigo já havia ocupado uma elevação chamada Caidauabu perto de Abafala. Nunca vi nenhuma arma moderna nas mãos do tio Virgílio. Ele tinha faca, arco com flechas e um bom feixe de azagaias. Não sei ao certo quem era o comandante dele, mas devia ser Lemo Rai2 porque era dele que o tio falava.
Durante as suas estadias em Uatulalu, o tio Virgílio treinava-me a mim e a seu filho Manuel, que era mais pequeno do que eu. Estas aulas práticas aperfeiçoaram muito o nosso treino bélico.
Os meus avós, por sua vez, também se começaram a sentir inseguros em Uatulalu e decidiram ir para junto dos meus pais que, como contei, viviam em Aguía, um lugar da aldeia Manumé que parecia mais abrigado e de onde é também mais fácil fugir para a montanha. As pessoas faziam o que estava ao seu alcance: juntavam-se em grupos maiores e assim sentiam-se mais preparadas para enfrentar as dificuldades que se adivinhavam. E foi desta forma que as três famílias, a do meu avô, a do meu pai e a do tio Virgílio, se reuniram em Aguía. Éramos muitos.
No início dessa nossa estadia em Aguía, tive ocasião de me cruzar com o nosso rei. Aí vinha ele, altivo, rodeado pela sua escolta, um grupo de homens armados e disciplinados. O rei chegou pelo lado de Quelicai e ia entrar em Manumé, mas não sei para onde se dirigia. O nome do nosso rei era Primeiro Sargento Aquiles da Costa Freitas, o “liurai Aquiles” e segundo algumas pessoas idosas, fora muito conhecido como o Sargento Aquiles. Era um comandante com provas dadas na luta contra os invasores, tinha sido militar português e reinava sobre o nosso suco Letemumo, sobre o suco Ossohuna em Baguía e sobre um outro suco do posto administrativo de Vemasse, chamado suco Oralan Uma Mutin. Foi um rei amado pelos seus súbditos porque era corajoso e ponderado. Era amigo do presidente Nicolau Lobato.3
O liurai Aquiles foi quem, em 1973, criou o suco Letemumo. Antes dessa data, as nossas duas aldeias, Uaidora e Manumé, pertenciam ao suco Bualale (Figura 1.3) e muitas famílias de Bualale são parentes nossos. O comandante David Alex era um desses parentes de Bualale.4
Já havia encontrado o nosso rei em outras ocasiões, mas essa foi a última. As minhas memórias são as de uma criança e só falo daquilo que vi e estava em condições de compreender. Ninguém ignora, porém, que existiu nessa época uma realidade paralela a esta minha narrativa, uma realidade complicada e fratricida. Dessa desunião vieram muitas desgraças ao povo de Timor-Leste e uma dessas desgraças foi o destino que o nosso rei sofreu, pouco tempo depois desse encontro, às mãos de seus próprios irmãos.5
Foi também já em Aguía onde os aviões Hércules fizeram a sua aparição e começaram a bombardear; e com eles apareceram os grupos de aviões a que chamávamos “regadores” que metralhavam qualquer pessoa que estivesse à vista. Atuavam em grupos de 2, 4, ou 6 e conseguiam cobrir muitos ângulos ao mesmo tempo. Por sorte, estes aviões eram lentos e previsíveis: só vinham uma vez por dia, normalmente de manhã, e ao chegarem davam-nos tempo para procurarmos uma trincheira onde nos enfiarmos – se houvesse alguma por perto.
Os ataques da aviação foram eficazes numa coisa: tornaram impossível o cultivo de milho e de arroz, o qual requer tempo e regularidade e cujos extensos campos não oferecem abrigo contra os atacantes vindos do céu. Foi uma lição que aprendemos por experiência: numa das vezes em que o meu pai tinha ido ao arrozal buscar o cavalo, apareceram dois regadores e começaram a regá-lo, mas ele conseguiu proteger-se contra um socalco. Quando os regadores mudaram para outro ângulo de modo a apanharem o meu pai sem proteção, ele cavou a terra com uma catana que trazia e conseguiu enfiar-se no buraco junto do outro socalco. Mas, com a pressa com que trabalhou e sendo o instrumento pouco adequado, feriu-se nas mãos.
Eu tinha também avistado esses regadores, o que não sabia era que eles andavam atrás do meu pai. Os regadores são teimosos. Quando descobrem uma pessoa viva, não desistem enquanto a não matam. Com eles por perto é impossível cultivar a terra. Por isso, não tivemos outro remédio senão abandonar os campos de milho e arroz. As consequências não tardaram.
Em Aguía respirava-se um ambiente de guerra e, novos ou velhos, todos acompanhávamos com atenção a tragédia que se ia desenrolando. Os regadores visitavam-nos cada vez com maior frequência e todos passaram a ter um lugar de refúgio, geralmente uma trincheira ou um abrigo natural entre lajes de pedra. Quando os regadores se aproximavam, íamos a correr enfiar-nos nesses refúgios. Eu tinha dois e corria para o que estivesse mais perto. Quando saíamos dos arredores de Aguía, habituámo-nos a ir referenciando possíveis abrigos para o caso de sermos atacados. Foi um bom treino. Estar alerta, reparar em tudo, conseguir que a atenção não ande a divagar, são hábitos úteis que se aprendem quando ficamos expostos ao perigo.
O nosso chefe de suco, Dário Carvalho Belo Ximenes e sua mulher Maria do Carmo Gusmão, também fugiram para Abuisi em Manumé, tornando-se nossos vizinhos. O refúgio deles era perto de um dos meus buracos e consistia numa grande gruta formada por lajes de pedra. Ao contrário das outras pessoas, e também devido ao facto do seu refúgio ser tão cómodo e espaçoso, o nosso chefe de suco habituou-se a passar dias inteiros lá metido. Mesmo antes do pequeno-almoço, ou “mata-bicho” como dizemos na nossa língua, ele já estava aí instalado. Acredito que tenha vivido no seu refúgio ao longo de todos os dias da sua estadia em Abuisi. Ficava sentado do lado de fora, afastava-se o menos que podia e quando os regadores chegavam, ele entrava na gruta. Eu e as outras crianças gostávamos de andar à solta e só quando os regadores se faziam anunciar é que corríamos a abrigar-nos.
Antes de ter fugido para Abuisi, o nosso chefe do suco morava com a família numa casa moderna, em Quelicai, do lado do suco. Quando o inimigo se aproximou, eles fizeram como tantos outros: pegaram nos filhos6 e fugiram.
Todas as tardes, depois da rega dos aviões, nós, as crianças das redondezas e as dele, saíamos juntos, brincávamos e íamos nadar. Não sei onde o nosso chefe de suco terá passado os anos seguintes. Não foi para Matebian connosco e só o voltei a encontrar uns anos mais tarde, em Quelicai, quando comecei a frequentar a escola.
A partir de certa altura passou a ser frequente cruzarmo-nos com pelotões das nossas forças armadas que se dirigiam para os seus postos ou que se retiravam. Numa dessas ocasiões, os militares ficaram entusiasmados ao verem as cores do vestido novo da minha irmã Noiloi porque essas cores eram as da bandeira que eles usavam naquele tempo. Então eles pediram o vestido aos nossos pais para fazerem uma bandeira e esse pedido foi aceite. Os militares prometeram que iam arranjar outro vestido novo. Despediram-se e levaram o vestidinho de Noiloi para o acampamento deles, que estava em Uasufa, perto de Rossoata na encosta de Matebian (Figura 3.2).
Uasufa era uma prisão mantida pelas nossas forças e os meus pais pediram para irmos nós buscar o vestido. Assim, eu e a Felismina, minha irmã mais velha, e duas outras mulheres da família, fomos lá. Quando chegámos, vi muita gente e ouvi dizer que eram prisoneiros, mas não me interessei por ir ver a prisão. Depois de procurarmos, finalmente encontrámos os militares que tomavam conta das roupas. Eles mostraram-nos vários e bonitos vestidinhos. Felismina perguntou se eles vendiam, pois nós gostaríamos de comprar; mas eles riram-se e disseram que vender não, mas podíamos escolher e levar como pagamento do vestido da Noiloi. E assim fizemos. A Noiloi devia ter então 4 ou 5 anos de idade.
Foi também nessa altura que o primo Lamartinho se fez explodir. O nome Lamartinho não existe em português, mas nós sempre o chamávamos assim.
Ele tinha uns 20 anos de idade aquando da invasão e isso determinou que tenha tomado parte na guerra. Mas como as nossas forças armadas possuíam pouco armamento, muitos dos homens e rapazes alistados tinham apenas armas tradicionais. Não sei qual o pelotão a que o Lamartinho pertenceu, mas sei que, quando vinha a Aguía visitar-nos, nunca trazia armas, apenas uma granada. E também me lembro de que, em vez de guardar a granada num lugar seguro, andava com ela na mão! Pior, ele não parecia ter a mínima noção de como uma granada é detonada (e nós nessa época também não) ao ponto de segurar nela pelo mecanismo detonador! Como tinha de acontecer, um dia em que ele voltava de nossa casa, deve ter andado a manusear a granada como era seu costume – e fê-la explodir, matando-se brutalmente. Contaram-nos que ainda se atirou para cima da granada com o fim de evitar que os seus acompanhantes sofressem.
O Lamartinho morreu perto de Ossomessa no suco Abo a sul, em 1976 ou 1977. Este pequeno apontamento pode não ser importante – mas é uma fotografia daquela época.
Em Aguía foi também onde, pela primeira vez, entrámos em contacto com uma realidade que nos havia de acompanhar nos anos seguintes – a fome. Na altura em que saímos de Uatulalu, a comida era abundante. Julgo que seria a estação seca, pois durante essa época é fácil encontrar inhame, batata-doce, mandioca e muitos outros frutos. Mas quando dezembro se aproximou e, pior ainda, em janeiro e fevereiro, sentimos duramente a falta do arroz e do milho que, devido à guerra, não fora possível cultivar. Esses meses foram de fome para todas as famílias deslocadas pela guerra.
Lembro-me como se fosse hoje da primeira vez em que eu e os meus irmãos Noiloi e Manuel, em vez de dividirmos a comida pelos pratos como era costume, começámos a contar os grãos de milho que iriam caber a cada um. Contávamos os grãos de milho e de feijão, quando havia, enquanto a nossa mãe cozinhava as folhas de feijão e comia-as, às vezes com uns grãozinhos de arroz – mas nem sempre. Em finais de janeiro e em fevereiro, a folha de feijão foi tudo o que nos restou.
A partir de então, quando nós, as crianças, tínhamos algum tempo livre, dedicávamo-lo a procurar comida; e tudo o que encontrávamos era dividido igualmente. O Marçal, o Jeremias Luís, eu e o Manuel, filho do tio Virgílio e da tia Rosalina, sempre fizemos assim enquanto estivemos em Aguía. A procura de comida e a capacidade para distinguir aquilo que se podia aproveitar do que fazia mal, foi um bom treino para o que veio depois.
Para além de tornar impossível o cultivo do campo, outro efeito da aproximação da frente de batalha foi empurrar-nos para a montanha. Isto aconteceu lentamente, em várias etapas.

Já contei a primeira dessas etapas, que se deu quando os meus avós e tios se mudaram para casa dos meus pais em Aguía. A segunda consistiu em passarmos a dormir na montanha. Embora continuássemos a viver e a trabalhar em Aguía durante o dia, à noite abrigávamo-nos em Morissi, já na encosta de Matebian (Figura 3.2), onde nos sentíamos mais seguros. De manhã bem cedo voltávamos a Aguía. Os invasores rondavam por perto e tínhamos medo de sermos apanhados durante a noite, que era quando eles faziam os seus raides.
Em Morissi, outras famílias de Manumé e de Uaidora vieram juntar-se aos meus pais e avós. Os tios Julião e Juliana, que estavam com o meu irmão Marçal e o Jeremias Luís, preferiram abrigar-se em Sorulai, um cabeço ali perto, mais ou menos a um quilómetro de distância. E com o tempo, muitos dos que se foram juntando a nós não eram vizinhos nem conhecidos. Por fim, quase todo o fundo da encosta de Matebian ali à volta estava povoado.
Ao fugirem para Morissi ou Sorulai, as famílias mataram os animais que tinham consigo (porco, cabrito, búfalo e cavalo) para fazerem carne seca. Os porcos grandes eram fritos para libertarem o óleo; a sua carne era depois seca. Também cortámos e secámos o miolo que se extrai do tronco da tua mutin. Depois de preparados, os mantimentos eram levados para a montanha.
Muitos animais e outros recursos foram abandonados. Em Morissi, toda a gente sabia que algumas famílias, na pressa de fugirem, tinham deixado os seus animais e mantimentos para trás. E aconteceu que certos homens começaram a sair à noite para abater os animais que haviam sido abandonados. Eles matavam e esquartejavam os porcos, cabritos e cavalos, e depois transportavam a carne para a montanha como se fosse deles. Existia um grupo de 5 ou 6 homens que faziam isso todas as noites, mas procuravam esconder a sua atividade para que os donos não descobrissem.
Era o tio Virgílio quem nos mantinha a par destas andanças; e é possível que algum dos seus amigos fizesse parte do esquema e o tivesse querido aliciar para esse trabalho negro. O tio Virgílio, por ser possante, era muito procurado para tudo o que requeresse força e destreza. De facto, ele trouxe carnes para o nosso abrigo em duas ou três ocasiões, carnes essas que nós comemos ou secámos sem fazer perguntas.
O assunto era mais complicado do que se julga porque havia o argumento de que seria errado deixar o inimigo aproveitar-se dos animais e, além disso, era evidente que algumas pessoas não tinham condições para matar os seus animais e transportar a carne com eles. Daí que os animais tivessem sido efetivamente abandonados.
Diga-se que os nossos militares não tinham hesitações dessas e começaram a intervir com grande dureza, tentando por todos os meios acabar com as pilhagens. Aquele que fosse apanhado com carne ou outros bens, era considerado saqueador e punido com a pena máxima. Não existindo tribunais por perto nem lei civil em vigor, os militares aplicavam o castigo no próprio local onde um saqueador fosse apanhado.
Estávamos nós entregues à tarefa de preparar alimentos, quando os meus pais foram presos! O facto que motivou a sua detenção é fácil de relatar e mostra bem o ambiente que se vivia naquela época. Uma vez que a casa onde dormíamos em Morissi não ficava guardada durante o dia, a minha mãe tinha medo de que os seus pertences fossem roubados caso os deixasse aí. Por isso, quase todas as manhãs, ela punha numa mochilinha as coisas valiosas que tinha e descia para Aguía com essa mochila; à noite, quando subíamos para Morissi, ela trazia a mochilinha de volta.
Ora aconteceu que alguns homens, talvez das nossas forças armadas ou talvez de alguma força privada, pararam a minha mãe para inspecionar o que ela levava na mochila.
Era de facto um pouco estranho encontrar uma pessoa que voltava para Aguía carregada: o povo levava comida e muitas outras coisas para Matebian, mas não as trazia de volta. Estes homens, portanto, desconfiaram que a minha mãe talvez estivesse a pilhar os bens do povo ou, ainda pior, talvez pretendesse fugir e ir render-se aos indonésios. Um dos receios infundados que assolavam as nossas chefias ao longo daquela época era que o povo fosse em massa render-se ao inimigo.
Não vi quantos homens prenderam a minha mãe porque eu e o meu pai havíamos descido para Aguía mais cedo. Depois de inspecionarem a mochila, eles levaram a minha mãe para a prisão militar que então existia em Ossolari. Alguns homens que viram a minha mãe ser levada, avisaram o meu pai, o qual se dirigiu a Ossolari e foi prontamente metido na prisão também. O tio Julião, sem muita vontade de ir lá ele próprio, enviou-nos a nós com comida e bebida para dar aos prisioneiros. Fui eu, o Jeremias Luís, a Felismina e a tia Maria (mãe da Felismina). Esqueci quantas semanas durou esta situação, mas lembro-me de termos transportado comida, eu e o Jeremias Luís, todos os dias – e foram muitos.
O tratamento que os meus pais receberam não foi mau. Os guardas davam mais comida à minha mãe do que aos outros prisoneiros porque ela estava grávida; e ela, por sua vez, dava parte dessa comida ao meu pai, o qual não merecia tratamento especial. A prisão era frágil, feita de bambu e madeira.
Algumas semanas depois, os meus pais foram transferidos para Sacolo, ainda mais para sul; e agora era até lá que nós tínhamos de levar-lhes a comida. Foi em Sacolo onde eles viram militares indonésios que as nossas forças armadas haviam capturado no fundo do grande vale de Matebian, num lugar chamado Uai Bitai, onde há uma fonte. O meu pai sempre nos falou destes militares que estiveram na prisão com ele.
Finalmente, passadas mais algumas semanas, os meus pais foram soltos e regressaram a casa para nosso grande alívio. Sabendo o que sei hoje, posso dizer que não foi pequeno o perigo que os meus pais correram enquanto estiveram presos.
Quando o inimigo finalmente se aproximou do posto administrativo de Quelicai, os combates intensificaram-se. Lembro-me de ter ido ver os destroços de um tanque indonésio, daqueles com lagartas, que alguns dos nossos militares com experiência da guerra de África tinham feito explodir usando uma mina artesanal, e matando os ocupantes a seguir. Mas apesar de sofrerem baixas, a tropa inimiga ia avançando. Os nossos, que quase só tinham armas ligeiras, estavam em desvantagem e iam cedendo terreno. Ao progredir para sul, o inimigo ocupou primeiro o monte Laualiu entre Quelicai e Cumbua, no suco Baguía, a norte, mas não conseguiu entrar na sede do posto administrativo porque as nossas forças ainda eram fortes e não os deixavam passar. Só depois de terem matado os nossos comandantes, conseguiu o inimigo entrar em Quelicai e avançar mais para sul.
Mostrando conhecimento do terreno, os invasores deslocavam-se sempre durante a noite. Pela manhã já haviam ocupado novas posições. Os seus helicópteros permitiam-lhes colocarem-se nas elevações atrás das nossas linhas e com isso os nossos militares ficavam cercados. Dessa forma, os comandantes mais experientes foram sendo isolados e mortos um a um. Por último, aos que sobravam apenas restava a bravura, mas pouca ou nenhuma experiência. Os comandantes que até serem mortos conseguiram evitar o avanço dos indonésios merecem ser lembrados com gratidão. Chamavam-se Lemo Rai, Liquió, Laicana, o nosso liurai Aquiles, Biacati e Pedro Soares. Os dois últimos eram parentes nossos.
Em 1977, teria eu então uns dez ou onze anos de idade, a guerra veio finalmente bater-nos à porta: Quelicai caíra em poder do inimigo, que cometia todo o tipo de atrocidades. O povo começou a refugiar-se nas florestas e nas montanhas, primeiro só durante a noite e mais tarde, a partir de 1978, já definitivamente. Ninguém disse ao povo para fugir. O pavor dos invasores era aquilo que nos empurrava para longe das aldeias. A fuga deu-se porque o invasor ia-se aproximando e os civis, mesmo as crianças, eram mortos, as mulheres eram violadas e os atos de crueldade multiplicavam-se.
O povo sempre olhara para Matebian como um lugar de refúgio e é natural que, perante o perigo, tivesse decidido fugir para lá. Em relação a outros postos administrativos, os habitantes de Quelicai tinham a vantagem de conhecerem Matebian. Lembro-me de lá ter estado em 1976 acompanhado da Felismina e do tio Francisco, marido da minha tia Ana Maria. Desde Afassucului no trilho de Laumana para Matebian (Figura 3.2) onde estes meus tios moram, subíamos até Iraíssi, no planalto do lado sul da montanha, já perto do seu topo, para cultivar um quintal de que meu tio é dono. Só fomos umas três vezes porque o inimigo, entretanto, avançou e fui requisitado para tarefas mais urgentes.
Com o avançar da frente de batalha, Morissi, no sopé da montanha, tornou-se menos seguro e resolvemos mudar-nos mais para cima, para Rossoata, já a meia-encosta (Figura 3.2). Foi esta a terceira etapa da nossa fuga. Para além dos meus pais e do tio Virgílio, juntaram-se a nós em Rossoata o tio Julião e a sua gente, o primo Amândio e várias outras famílias. Todo este povo dormia numa só casa rudimentar, construída para o efeito. Não havia espaço – mas paciência, era a guerra.
Resolvemos então preparar casas de refúgio definitivas, capazes de albergar toda esta gente e que não estivessem expostas aos avanços do inimigo. Essas novas casas haviam de ser boas e cada família ia poder ter a sua.
O lugar escolhido situava-se lá em cima, no planalto, a nascente de Ossolero, uma elevação da parte sul de Matebian onde naquela época ainda existia um povoado dos tempos antigos, chamado Lelalai, pertencente ao suco Abo. Esse e outros povoados mais pequenos que se podiam encontrar por perto, possuíam bonitas casas tradicionais feitas com pedras muito bem calcadas; e também era nessa mesma região que se situavam algumas das casas sagradas de aldeias do suco Abo.
Como referi, tanto Ossolero como outras elevações mais altas, como é o caso dos montes Bermeta e Quiticura a norte, assentam num extenso planalto chamado Cailassissi com dois mil metros de altitude, quase todo ele rodeado de escarpas a pique e que constitui a parte sul de Matebian. Entre Ossolero e Bermeta, num baixo, mas da banda nascente de Cailassissi, existe uma fonte chamada Uaidé e a respetiva lagoa ou charco. As nossas casas de abrigo foram construídas aí perto. Essa fonte, a única do planalto, dá origem a uma ribeira que, ao descer do planalto, passa por Sacolo e Ossolari e, após se juntar a outras, atravessa Viqueque e desagua na costa sul, no Mar de Timor.
Foi pouco antes de Quelicai cair em poder do inimigo, talvez em finais de 1976, quando demos início aos trabalhos de construção. Primeiro, transportámos lá para cima a fibra de marrabi e as cordas necessárias para fazer os telhados das casas. Não era fácil, porque a longa e íngreme subida com coisas pesadas às costas é esgotante. Madeira, pedra e outros materiais de construção, já existiam no planalto. Depois de muito trabalho, por fim lá conseguimos pôr de pé várias casas, com paredes de pedra calcada e telhados tão bons como os de Uaidora e Manumé. Para além das casas de habitação, também fizemos uma outra de tipo tradicional (sobre estacas, elevada em relação ao chão) e onde várias famílias armazenavam comida e roupa sem perigo de que os ratos chegassem lá e estragassem tudo.
Quando as casas de refúgio ficaram prontas, juntámos toda a gente e levámo-la lá para cima. Foi a quarta etapa da nossa fuga. Passámos assim a viver permanentemente em Matebian, no grande planalto chamado Cailassissi, da banda nascente, oposta àquela que dá para Uaidora. Como me competia, acompanhei minha avó; e na mesma casa onde nós estávamos, ficaram também alojados os tios Virgílio e Rosalina e o seu filho Manuel.
O meu avô Uatubada não chegou a subir à montanha connosco porque morreu duas semanas após termos saído de Aguía, durante uma visita à aldeia Uaibubu do suco Abo. Morreu de repente: dois dias antes estava bem, sem nenhuma queixa, com a possança e destreza de sempre. Lembro-me de o ter visto acertar com uma pedrinha num coco, lá bem no alto, e de ver o fruto a desfazer-se em pedaços. Era uma das suas distrações – e não gosto de pensar em como uma simples pedrinha do chão podia ser tão perigosa nas mãos da gente do tempo dele. Nunca mais existirão em Timor-Leste pessoas como o meu avô Uatubada.
Uatubada tinha a parte de cima do corpo tatuada, um enfeite nada comum entre nós. Segundo contava, a tatuagem havia sido feita por um árabe, seu companheiro de prisão. Eu senti muito a falta dele, da confiança que me mostrava, das conversas que eu tinha com ele (gostava de lhe contar as minhas pequenas peripécias) e do afeto que sempre me demonstrou. Foi ele quem me criou. Continuei a acompanhar a minha avó Alda (cujo nome gentio era Labunae), a quem havia sido entregue e cujo bem-estar dependia agora de mim apenas.
A nossa fuga tinha sido mesmo a tempo porque o inimigo já se movia com facilidade nas aldeias do posto administrativo e todos os dias avançava mais para sul. O povo, aterrorizado, fugia para a montanha. Vinha ter connosco uma multidão de gente.
Mesmo assim, os primeiros tempos em Cailassissi foram prazenteiros. Sentíamo-nos seguros lá no alto, não havia falta de comida nem de água e, apesar do esforço que isso representava, era frequente descermos para procurar mais comida nos quintais das aldeias dos arredores ou nas encostas de Matebian onde sabíamos que os mantimentos eram fáceis de achar.
Foi assim que passámos a dormir lá no alto, mas como contei, descíamos todos os dias para cultivar ou colher. Saíamos bem cedo para aproveitar o dia trabalhando nos quintais dos arredores.
Lembro-me de, recém-chegado de uma dessas incursões e trazendo comigo um bom carregamento (inhame, batata, mandioca, milho), ter escorregado na lama junto de um enorme barranco a pique, mesmo à entrada do planalto, depois da subida. Toda a comida foi pelo precipício abaixo, centenas de metros, e desfez-se. Eu consegui agarrar-me a uma pedra.
Custou-me perder essa comida porque tinha dado muito trabalho a encontrar e a trazer lá para cima. Mas enfim, estava vivo.
Numa dessas madrugadas, estando nós a descer a encosta a caminho de Aguía, o inimigo apareceu no monte Liatoe, uma elevação do suco Laissorulai (Figura 3.2) e começou a alvejar-nos. Eles tinham ocupado aquele outeiro durante a noite e por isso fomos apanhados de surpresa. A ocupação desse ponto alto era uma ameaça, já que o inimigo podia agora avançar e interpor-se entre nós e Matebian, barrando-nos a fuga para a montanha.
De facto, desde Liatoe pode-se facilmente ir até Aguía e aparecer depois em Quelicai vindo de sul. Se os indonésios tivessem seguido esta via, eles estariam em cima de nós sem que nos fosse possível escapar. Por sorte encontravam-se militares nossos de permeio. Então, corremos e fomos esconder-nos do outro lado do monte Ossolia para assim voltar a Matebian dando a volta por Ossomulai e Afamata. Dessa vez, não conseguimos recolher comida nenhuma, pois desde muito cedo, ainda nem tínhamos chegado a Aguía, já o inimigo nos estava a alvejar desde Liatoe.
A ocupação de Liatoe aconteceu por alturas da data em que o inimigo atacou uma prisão mantida pelas nossas forças, onde a mãe de Roberto Soares1 estava retida. Ela tinha sido presa porque o marido vivia na Indonésia. O marido foi com tropa a essa prisão para a libertar, mas, segundo o que se diz, alguém o reconheceu e o matou ali mesmo.
Para nossa frustração, a tropa ficou permanentemente em Liatoe, recebendo suprimentos com a ajuda de helicópteros enquanto os nossos militares os cercavam. Mas a história era sempre a mesma: devagar, no decurso de talvez duas semanas, as tropas deles foram ocupando outras posições, quebraram o cerco e a seguir rodearam e aniquilaram as nossas forças. Depois, já sem resistência, ocuparam Sorulai e Ossomulai, dois pontos altos do suco Abo no sopé de Matebian (Figura 3.2). Com isso, passaram a dominar a parte mais exposta da encosta e tornaram muito perigosa a nossa descida. Tínhamos ficado encurralados lá no alto.
Só nos apercebemos desta nova realidade e das suas consequências quando, decorridas algumas semanas, voltámos a tentar a nossa sorte: descemos de Cailassissi até Rossoata para colher batata e inhame que lá havia. Os militares indonésios estacionados em Sorulai viram-nos descer (era impossível que não nos vissem!) mas não fizeram nada. Deixaram-nos vir, talvez porque julgassem que tínhamos a intenção de descer ainda mais – e, portanto, iríamos passar mesmo diante dos canos das suas armas – ou então talvez acreditassem que nos vínhamos entregar. Mas nós, chegados a Rossoata, parámos e começámos a procurar alimentos. Então, ao verem que não aparecíamos do outro lado (Rossoata tem vegetação, árvores e pedras grandes), os indonésios começaram a regar-nos com rajadas de metralhadora.
Foi perigoso para morrer! Eu desisti logo de procurar comida porque naquela situação, debaixo de um fogo tão próximo, não se consegue procurar comida – e até se perde a fome. Decidi, portanto, voltar para o planalto e os outros foram-me seguindo como puderam.
Ao fugir pela encosta acima tivemos de passar num lugar onde não existem pedras nem arbustos nem sequer ervas grandes. Sem abrigo, fomos continuamente alvejados. Mas já não era desde tão perto e conseguimos regressar.
Eu ia à frente e quando atingi a entrada do planalto, no mesmo lugar onde uma vez havia escorregado na lama fresca enquanto transportava alimentos, devo ter parado um momento para descansar. O certo é que dei tempo a um atirador dos que estavam em Ossomulai para me visar. Ele disparou uma só bala que quase acertou na minha cabeça. Lembro-me de sentir a bala a bater junto da orelha, numa parede de pedra à qual eu me tinha encostado.
Era uma bala cansada, das que vêm de longe: bateu na parede e caiu sem zunir; mas teria tido força suficiente para me matar. O que fiz foi agachar-me e passar para o outro lado da parede. Fiquei aí durante vários minutos e só depois fugi. Talvez que o atirador tenha julgado que me acertou porque não voltou a disparar. Dessa vez, aquilo que me salvou a vida foi porventura algum pequeno movimento que terei feito com a cabeça. É difícil matar crianças desde longe porque elas nunca param quietas.
Quando se está a ser alvejado, o que nos aconteceu em várias ocasiões e não é nada agradável, é um erro ficar quieto. Depois disso, decidimos que daí por diante só descíamos do planalto ao anoitecer. Saíamos ao fim da tarde e voltávamos pela madrugada, em geral bem carregados.
Entretanto o povo não parava de chegar. As pessoas subiam pela encosta da banda de Baguía, ainda livre de inimigos, passavam em Ossolero e depois paravam em Uaidé para beber. A seguir procuravam algum dos muitos abrigos e grutas existentes no planalto e aí se instalavam. Cailassissi está repleto de grutas, algumas espaçosas e profundas, onde centenas de pessoas podem encontrar abrigo. Embora se diga que foram os japoneses quem as construíram durante a ocupação da ilha de Timor (1941-1945), eu sou de opinião que essas grutas são naturais. Os meus avós disseram que os japoneses ocuparam Ossolia e aí combateram os australianos, mas nunca mencionaram o planalto.
As grutas de Matebian têm de ser naturais porque não se podem aí escavar grutas artificiais. As pedras não são boas de escavar. Existem enormes pedras com outras pedras em cima, mas todas elas estão rodeadas de uma terra quase solta que se esboroa e não pode servir de teto. É essa terra quase solta que, ao desaparecer, forma grandes grutas. Existem noutros lugares pedras boas de escavar e onde há abrigos feitos pelo homem. Em Bercoli, vi grutas feitas pelos japoneses.2 As de Matebian são diferentes.
Matebian era o refúgio, era a única resposta que a população encontrou para o terror que a possuía. Refugiaram-se na montanha talvez uns 15 sucos: quase todo o povo dos postos administrativos, sucos e aldeias de Baucau, Viqueque e Lospalos fugiram para Matebian. Eram milhares e milhares de seres humanos – e a maior parte deles encontrou aí a morte.
Segundo o que outras pessoas me contaram, os nossos militares iam dirigindo este êxodo e, ao mesmo tempo, tentavam criar linhas de defesa de modo a barrar a subida ao inimigo. Isso parecia fácil, uma vez que a montanha é escarpada, uma fortaleza natural, e só existem quatro caminhos para chegar ao planalto. É certo que existem outros caminhos desde Baguía ou desde Uatucarabau e Uatulari. Mas para quem venha de poente, os acessos são: por Uai Bitai, por Afassucului, por Rossoata; ou então pela outra banda que leva a Ossolero. Cortados esses acessos, estaríamos a salvo – ou assim esperávamos. Devo esclarecer que, durante a nossa estadia em Cailassissi ou durante o tempo que permanecemos em Matebian, eu nunca vi nenhum dos nossos militares.
Aquilo que aconteceu não foi o que nós e os nossos militares esperávamos! Passado pouco tempo, o inimigo, usando helicópteros, assaltou e ocupou Bermeta, uma elevação que domina Ossolero e grande parte do planalto. Dessa forma, as nossas belas casas de refúgio, que tanto trabalho nos haviam custado, ficaram expostas e tiveram de ser abandonadas à pressa. Mudámo-nos então para a banda oposta de Cailassissi, aquela que está virada a poente, e mais para norte, já perto de Quiticura e Iraíssi, mas ainda no planalto. Este nosso quinto lugar de refúgio foi achado mesmo a tempo, porque o inimigo, segundo o seu costume, o primeiro que fez foi pegar fogo às nossas casas.
E não apenas a essas. Como a banda do planalto onde agora nos encontrávamos era a que dá para poente, passou a ser possível avistar Uaidora e Manumé lá em baixo – e todo o extenso município de Baucau até ao mar. Assim, conseguimos ver como o inimigo pegou também fogo às nossas casas tradicionais, uma a uma. Vimos, desde aquele miradouro, as chamas a destruírem Uaidora, o nosso mundo, o nosso conforto e recordações. Não pouparam nada. Até a casa sagrada Uaidora, no topo de Ossolia, tão imponente, com seu telhado esguio e muitos enfeites, uma casa com centenas de anos e que nunca mais se conseguiu fazer igual, foi então queimada junto com as outras.
A seguir, a tropa dedicou-se a estragar os campos e os quintais, tudo o que fosse aproveitável. Por último, mataram os animais que encontraram: búfalos, cavalos, cabras, porcos, muitas galinhas e os nossos cães. Desses, havíamos trazido connosco uns poucos. Mas os galos de luta, bichos de muita estimação, ficaram quase todos na aldeia e foram mortos.
É certo que os galos ou cães que os indonésios não mataram também tiveram a mesma sorte: foram mortos por nós e comidos lá no alto, em Matebian.
Ao ocuparem Bermeta e a seguir Ossolero, os nossos inimigos não dominavam apenas todo o planalto da parte sul de Matebian: eles também nos cortavam o caminho da água. O planalto é extenso e oferece inúmeras oportunidades de abrigo, mas tem uma grande limitação: só existe água em Uaidé e em mais lado nenhum. E desde as suas posições, a tropa dominava Uaidé e os seus acessos. Os trilhos para Uaidé tornaram-se muito perigosos, com os canos das metralhadoras de Ossolero e Bermeta a cobri-los, tanto em extensão como de lado. Caminhos abertos, sem pedras grandes ou árvores. Quem fosse visto era alvejado e muito povo foi aí morto. Por isso, só nas trevas o povo tentava ir beber. Mas mesmo à noite, o inimigo disparava rajadas e, pior, eles ligavam holofotes de repente e matavam quem vissem.
Durante uns tempos ainda fomos beber a Uaidé durante a noite, ao abrigo da escuridão. Eu fui lá uma vez apenas. Todos nós sabíamos que havia gente morta dentro daquele charco, mas dessa vez não vi nem senti nada. Outros, ao irem lá beber, tocavam em corpos de mortos – mas mesmo assim bebiam.

Quando Uaidé se tornou impraticável, passámos a ter de ir buscar água a Uai Bitai, no fundo do grande vale que divide as duas partes de Matebian. Gastava-se uma hora para descer até Uai Bitai e duas horas para voltar a subir. Mas o pior não era a falta de água: ao ocupar os pontos altos, o inimigo, que já dominava Sorulai e Ossomulai abaixo de nós, cortou-nos a possibilidade de fuga e as rotas de abastecimento.
O refúgio onde agora nos encontrávamos não durou senão duas semanas. Devido talvez ao reposicionamento das nossas linhas de defesa, esse local tornou-se, a partir de uma dada altura, especialmente exposto. Começámos a ser alvejados com tiros de canhão, de morteiro e com rajadas de metralhadora, enquanto a atividade dos aviões regadores e dos bombardeiros passou a ser incessante.
Foi talvez por isso que uns primos da tia Rosalina, apavorados e esfomeados, tenham decidido render-se. Eles já não aguentavam mais. À noite, a família deles subiu até perto de Ossolero, numa posição onde havia tropa, e mandaram uma tia já idosa falar com eles, pedir que aceitassem a sua rendição. Mas assim que a viram, os militares deitaram-lhe a mão e espancaram-na até ela morrer. Toda a família ouviu os gritos dela.
Depois de estes nossos primos terem regressado, nós todos, nessa mesma noite, mudámos outra vez de lugar de refúgio para ficarmos ainda mais afastados dos indonésios. Mas na precipitação da fuga aconteceu que eu, com a avó Alda e os tios Virgílio e Rosalina, ficámos separados dos outros. Fomos arranjar um abrigo em Quiticura, lá mesmo no pico, já perto do pequeno planalto que constitui o topo da montanha maior e onde hoje está a estátua de Cristo rei. Foi esta a nossa sexta e derradeira mudança de lugar. E, apesar de procurar denodadamente, não encontrei, naquele enorme labirinto de rochedos, o abrigo dos meus pais nem o do tio Julião, junto com quem o meu irmão Marçal se encontrava. Durante um mês, mais ou menos, fiquei sem saber do resto da família.
Desde inícios de outubro de 1978 até a nossa rendição ser aceite, o que só veio a acontecer no mês seguinte, estivemos confinados a Quiticura, lá no topo. O inimigo nunca mais largou Bermeta e Ossolero. Quase nunca saíamos do abrigo e não tínhamos comida de nenhum tipo. Eu lembro-me de ter, por várias vezes, refletido com admiração no facto de continuar vivo apesar de não comer durante dias, talvez semanas a fio. Achava estranho. Hoje, ao pensar nisto, ainda pergunto a mim mesmo como terá sido possível aguentarmos tanto tempo sem comer. Para mim e para as outras crianças, cada dia que estivéssemos vivos já valera a pena; mas para os adultos foi duro verem-se assim no alto da montanha, encurralados naquele pico escalavrado, esquecidos de todos, a adiar a morte.
Outra posição que o inimigo ocupou recorrendo a helicópteros foi o foho Matebian Feto na outra parte de Matebian, a que fica a norte do grande vale. Desde aí, com morteiros e metralhadoras, dominava o vale, a fonte Uai Bitai e uma parte da encosta do foho Matebian Mane onde nós estávamos refugiados. De dia, ou de noite com holofotes, eles vigiavam a água que existia no fundo do vale e alvejavam quem se atrevesse a ir buscá-la. Desde o Feto, eles também tentavam alvejar Quiticura, mas sem efeito porque o vale que separa as duas partes é extenso e foho Matebian Feto fica longe dos lugares altos, já quase no pico, onde nos tínhamos refugiado.
Os invasores pareciam conhecer Matebian. E talvez conhecessem mesmo. O meu tio Francisco,3 afirma que, talvez no ano 1973-1974, antes de invasão e ainda no tempo dos portugueses, Matebian foi sobrevoado por aviões que passavam devagarinho e se metiam pelo vale acima. Eu também me lembro de ter avistado dois helicópteros militares por cima de nós, em Uaidora, que depois foram metralhar Uai Bitai. Quando os helicópteros passaram sobre nós, desceram um bocadinho e depois voltaram a subir. Quem estivesse a planear a invasão de Timor-Leste precisava de conhecer as suas defesas naturais. O certo é que o inimigo conhecia o terreno, não se expunha e usava os meios adequados – excetuando aquela vez, ainda em 1977, em que tentou ocupar Uai Bitai (Figura 3.2) e foi encurralado.
Foi assim: Uai Bitai encontra-se, como referi, no fundo do grande vale. É um lugar fechado onde é fácil entrar, mas de onde já não é fácil sair se alguém não deixar. Apesar de saber muito, o inimigo não sabia disso. Assim, os nossos militares atraíram a tropa a Uai Bitai e deixaram-na entrar. Morreram aí bastantes deles pois não havia forma de escapar. Mas agora, em finais de 1978, as posições que os indonésios ocupavam em Matebian (Ossolero, Bermeta e mais abaixo, no sopé, Ossomulai, Sorulai e o foho Matebian Feto, na parte norte), eram inexpugnáveis e aí eles podiam manter-se fora do alcance das nossas armas.
Como também referi, desse ataque a Uai Bitai em 1977 resultaram dois prisioneiros indonésios feridos que foram tratados e mantidos em cativeiro até à nossa rendição em Matebian. Quando o meu pai esteve preso, viu-os; e depois, ao retirarem para a montanha, os nossos militares levaram-nos com eles. É possível que estes prisioneiros tenham ajudado a negociar a rendição. Mais tarde, em Quelicai, eles foram vistos a entrar para um helicóptero que veio de propósito para os levar embora. A própria rendição foi um bem inesperado porque até então, como contei, os indonésios matavam quem se rendesse, homem ou mulher, novo ou velho. E, é claro, também matavam quem não se rendesse.
A vida em Matebian tinha uma estranha regularidade. Todos os dias apareciam 4 a 6 regadores e a seguir vinham 2 a 4 jatos.4 De vez em quando também apareciam 2 ou 3 helicópteros ou, nos primeiros tempos, um enorme Hércules. Esta formidável força aérea bombardeava e metralhava, perseguindo com tenacidade qualquer pessoa que estivesse à vista. Os jatos preferiam o grande vale enquanto os regadores estavam em toda a parte, mas mais no pico e no planalto. O Hércules deixou de aparecer depois dos nossos militares lhe terem feito uns buracos.
O horário de funcionamento dos aviões era das 8 às 11 da manhã e depois de uma pausa para almoço, voltavam por volta das 15 e ficavam até às 17 horas, altura em que largavam o trabalho e iam descansar. Fora das horas de serviço, nomeadamente durante a noite, éramos bombardeados pela artilharia (morteiros e canhões). Isto foi assim todos os dias até à rendição.
Os grupos de regadores alternavam-se no privilégio de nos metralharem: se, por exemplo, o grupo fosse de 4 aviões, então ficavam três à espera lá em acima enquanto o quarto baixava para mais perto de nós e regava. Ele regava ao descer e depois voltava a regar ao subir usando a parte de trás do avião. A seguir trocavam de posição e vinha outro. Eles preferiam o planalto e tentavam sempre colocar-se na posição que lhes permitisse alvejar quem estivesse abrigado atrás de lajes de pedra. Mas as pedras grandes eram um bom abrigo porque tínhamos tempo para mudar a nossa posição quando eles mudavam a deles.
Estávamos, porém, indefesos perante bombas ou obuses, porque esses matavam tudo o que estivesse perto. Até conseguiam deslocar grandes lajes! Por sorte, os jatos não pareciam sentir-se à vontade lá em cima, perto do pico ou no planalto. Quando passavam aí, era sempre alto, sem baixarem e sem atacarem. Eles preferiam o grande vale onde conseguiam aparecer de repente.
Não valia a pena gastar balas com regadores nem com jatos. Os primeiros, quando eram alvejados, ficavam assanhados e então desciam os quatro para regar pela frente, por detrás e por todos os lados, o que era mau para nós; os segundos eram rápidos, não dava nem para fazermos pontaria. Mas disparar sobre o Hércules ou sobre os helicópteros já valia a pena. Quando uma bala atingia o Hércules, atravessava-o, não ficava lá dentro. E a resposta era rápida, a tal ponto que o atirador tinha de correr e mudar para outro abrigo mais longe se não quisesse morrer ali mesmo. Isto contou-me um parente meu que, desde o monte Ossolia, se entretinha a alvejar o grande Hércules sempre que ele passava por perto.
Julgo que as bombas e obuses foram o que mais gente matou. Mas quem mais morria era o povo, não tanto os nossos militares, pois estes estavam demasiado perto das posições ocupadas pelo inimigo para serem atingidos com bombas ou com obuses. Mesmo assim, dos comandantes de então, poucos restam: Lere Anan Timur,5 L7 (Cornélio Gama), Taur Matan Ruak,6 coronel Savica, tenente-coronel Maubuti7 e Xanana.8
Tenho pena de não me lembrar dos nomes de vários outros, tanto dos que estão vivos, como dos que morreram em Matebian. Os comandantes que eu sei que morreram foram aqueles que, como contei, tentaram resistir ao avanço dos agressores de Laga para o interior, entre 1975 e 1978. Desses, o primeiro a morrer foi Lemo Rai. Durante esses anos, em todo o território de Timor-Leste, muitos dos nossos combatentes foram mortos com as armas na mão. E a resistência à invasão não se restringiu a Matebian.
Não se morria só de tiros, metralha ou impacto de bombas e obuses. Morria-se também de fome e sede, de doença, ou debaixo de pedras. Diz-se que o povo de uma aldeia encontrou a morte quando a gruta onde se havia abrigado ficou obstruída. Como contei, muita gente tinha encontrado refúgio no interior de grutas; e lembro-me de ter ouvido relatar como o povo da aldeia Uaibobo em Ossú ficou bloqueado por uma grande pedra que ninguém conseguiu mover, numa gruta que existia na encosta norte de Bermeta.
Não tenho a certeza de que tivesse morrido a aldeia inteira, mas foram muitos os que morreram ali fechados. Os que estavam do lado de fora ouviam, segundo o que me contaram, os gritos daquela pobre gente. Isto aconteceu porque um bombardeiro conseguiu provocar uma avalanche. Outro dos meus parentes morreu da mesma forma. Uma grande laje debaixo da qual ele estava abrigado caiu de repente em cima dele e esmagou-o. Ficou de fora uma mão e nós resolvemos deixar o corpo assim. Só tapámos a mão.
Ao longo da minha infância e juventude, estive em risco de perder a vida em várias ocasiões. Já relatei aquela vez em que escorreguei na lama e quase me despenhei, tendo perdido toda a comida que trazia; ou quando, no mesmo sítio, dei tempo a um atirador para me visar desde Ossomulai. Vou agora contar outros dois desses episódios. O primeiro aconteceu quando ainda nos encontrávamos a viver no planalto de Cailassissi, perto de Ossolero, e foi talvez a menos perigosa de todas essas ocasiões, mas nunca mais esquecerei a teimosia dos meus perseguidores.
Estava eu sentado numa laje a tentar ganhar fôlego, quando fui visto por um grupo de quatro regadores que me começaram a regar. Meti-me debaixo da laje e só vinha cá fora espreitar quando não os ouvia. Tive aqueles quatro regadores a rabiarem contra mim, uma criança de dez ou onze anos de idade, durante quase meia hora! Eles iam embora, os quatro, ou melhor, fingiam que se estavam a ir embora: subiam e afastavam-se. Mas depois voltavam ao meu refúgio em voo rasante para me apanharem cá fora. E quando vinham, metralhavam. Tudo, só por minha causa. Por fim, deixaram de vir. Quem sabe, talvez tivessem ficado sem munição.
De todas as ocasiões em que a minha vida correu risco, talvez a mais perigosa e espetacular tenha ocorrido estando nós lá no alto, em Quiticura, durante a única ocasião em que fui autorizado a descer a Uai Bitai para trazer água. Eu já antes havia tentado acompanhar os adultos nessa perigosa expedição. Lembro-me de uma vez em que cheguei a convencer os meus tios Rosalina e Virgílio a deixaram-me ir com eles; até já tínhamos descido os três até à base, ou planalto, onde assenta Quiticura, quando um estranho apareceu e disse: “A criança vai descer também? É melhor a criança não ir!”. E o certo é que com isso os tios mudaram de ideias e eu não fui. Fiquei vexado, mas depois tive ocasião de me alegrar muito porque durante essa saída descobrimos o lugar de abrigo do Tio Julião, o qual nem sequer estava longe do nosso! E o tio Julião, por sua vez, sabia onde se encontrava o abrigo dos meus pais!
Aquele estranho que desaconselhou os meus tios tinha toda a razão pois o percurso até à água não era para crianças. Primeiro, descia-se até ao planalto onde assenta Quiticura, ainda muito lá no alto. Essa etapa era protegida, pois Quiticura é um mar de enormes lajes, muitas delas verticais, outras inclinadas e algumas até equilibradas em cima de outras. A seguir, vinha a longa descida pela encosta em direção ao vale, a qual, em alguns trechos, tinha de ser feita mesmo diante da posição indonésia do foho Matebian Feto, do outro lado do vale. Mas por ser longe, só a partir de uma certa altura se tornava perigosa. De qualquer forma, era um caminho muito exposto e, portanto, havia pouca proteção contra aviões regadores ou outros.
A última parte da descida era a pior, porque não existiam abrigos nem caminhos alternativos e estava situada a uma distância tal dos atiradores indonésios, que eles podiam atingir-nos, primeiro com tiros de pontaria, visando-nos, e mais abaixo com simples rajadas, quase sem precisarem de visar. Por fim, chegava-se à própria fonte e a uma pequena lagoa ou charco onde existia bastante vegetação, árvores e alguns abrigos constituídos por grandes lajes ou mesmo pequenas elevações de terreno e fissuras; mas a fonte estava tão próxima do inimigo que eles até nos podiam ouvir falar. Nem precisavam de nos verem para disparar.
As pessoas desciam ao grande vale para beberem e eram alvejadas, mas, acossadas pela sede, continuavam a descer. Numa manhã, já em novembro, saímos do abrigo como de costume e descemos até ao planalto para espreitar as redondezas e especialmente o vale. Era pouco depois do nascer do sol. Aí no planalto, vimos chegar, vindas do vale, os pais das professoras Teresinha e Gabriela9. Tinham conseguido descer à fonte, vinham com água e, enquanto descansavam, contaram a sua aventura. Perante as boas perspetivas, o tio Virgílio decidiu-se a tentar a sua sorte e iniciou a descida enquanto eu e a tia Rosalina esperávamos o seu regresso para descermos também.
Enquanto esperávamos, íamos vendo o que se estava a passar lá em baixo – e vimos quatro regadores que, mal chegaram, começaram logo a metralhar o povo que apanhava água. Segundo o que o tio Virgílio nos contou mais tarde, ao ser atacado por aqueles regadores ele abrigou-se numa fissura ou pequeno vale onde era difícil eles chegarem porque estava mais fundo do que a própria fonte.
Quando os quatro aviões pararam de metralhar e foram almoçar, o tio Virgílio correu muito depressa para apanhar água da fonte e depois regressou. E assim que chegou ao sopé de Quiticura, eu e a tia Rosalina fomos também tentar a nossa sorte enquanto o tio Virgílio ficava por sua vez à espera.
Na descida vi gente morta: alguns tinham os recipientes de bambu nas mãos e a água derramada misturava-se com o sangue deles – eu vi. Onde havia mais mortos era naquela parte da descida coberta pelos atiradores do foho Matebian Feto. O inimigo concentrava a atenção nessa parte exposta, o único caminho para chegar a Uai Bitai. Ao passarmos aí, corremos o mais depressa que conseguimos e, percorridas essas centenas de metros, chegámos à fonte e escondemo-nos entre as árvores e lajes que lá existem.
Encontrámos pessoas em Uai Bitai, tanto a beberem como a tentarem lavar-se e nós começámos a fazer o mesmo. Enquanto bebia, eu não deixava de espreitar na direção de Quelicai e Baucau pois era dessa banda por onde normalmente vinham os aviões para metralhar em Uai Bitai. Os regadores estacionavam em Baucau enquanto os jatos vinham de Surabaia, uma outra ilha na Indonésia. A hora do almoço deles já tinha acabado e eu estava com receio de que voltassem. E de facto avistei lá ao longe, do lado de Baucau, dois jatos e a direção deles era a de quem vai atacar o grande vale.
Gritei para que os outros se abrigassem. Eles abrigaram-se, mas eu corri para o outro lado da grande laje que há perto de fonte. Corri na direção errada e fiquei mesmo em frente dos jatos que nesse momento chegavam!
Ouvi a tia Rosalina a chamar por mim, mas já era tarde. Os jatos são muito rápidos: chegam de repente, não se ouvem e só se percebe onde estão quando é impossível fugir. Então eles fazem um barulho forte, uma espécie de estoiro. Eu vi à minha frente a cara de um piloto e depois vi duas bombas a chegar. A minha tia, entretanto, gritava: “Por este lado! Venha por este lado!” Corri e fui ter com os outros. Um homem que nunca mais voltei a ver, ele teria cerca de 30 anos de idade, começou então a gritar contra a minha tia dizendo: “Não pode gritar aqui! Se gritar eu vou matar-vos, vou cortar as vossas cabeças!” – ele gritou muito.
Nós não respondemos nada porque os aviões, depois de terem lançado as bombas, preparavam-se agora para nos metralhar a nós. Por isso eu, a minha tia e o restante povo, umas 4 ou 5 pessoas, fomos esconder-nos melhor. Acima da fonte há uma pedra muito grande que forma um pequeno cabeço. O lugar onde nos abrigámos fica a uns 4 ou 5 metros dessa pedra.
Entretanto, lembrei-me de que não tinha sentido as bombas a explodiram. Uma bomba daquelas destrói tudo num raio de muitos metros e desloca mesmo lajes pesadas. Eu devia já estar morto! Então espreitei e vi as duas bombas, muito perto, a uns 10 metros se tanto, naquele lugar desabrigado para onde eu tinha corrido erradamente. Só que não tinham explodido! Abriram-se, digamos assim, mas não rebentaram, não espalharam a metralha. Ficaram ali, medonhas, a uns passos, esventradas. Se tivessem rebentado, se uma delas tivesse rebentado, então eu teria ficado feito em frangalhos. Mesmo a laje atrás da qual o povo estava na altura abrigado talvez não fosse suficiente para os proteger. Talvez que essa laje tivesse caído e todos teriam sido esmagados.

O que aconteceu a seguir já não foi importante. As grandes balas com que aqueles jatos nos regaram acertavam na pedra ao nosso lado – eu vi e ainda me lembro muito bem. Essas centenas de balas batiam na pedra e faziam relâmpagos, como um fogo que vai acender a pedra inteira. Durou mais de 10 minutos, eu calculo. Os jatos faziam fogo como se estivessem a treinar, depois davam a volta e voltavam a fazer fogo.
Por fim foram-se embora. Gastaram ali duas bombas e talvez toda a munição que lhes restava, sem terem conseguido matar uma só pessoa. Nem uma criança eles mataram. Até parecia que os jatos só queriam ver-se livres da munição para se irem embora. Eu havia de presenciar, em várias outras ocasiões, esta espécie de atitude burocrática por parte da tropa inimiga.
Depois de desaparecerem, nós começámos a apanhar água com muita pressa porque talvez a tropa que se encontrava no Feto nos quisesse agora alvejar ou talvez ainda viessem outros aviões. Antes de regressar fui ver as bombas. Vi claramente duas bombas, não explodidas, mas só abertas.
E fomo-nos dali. Na subida, ao passarmos no trecho perigoso ainda corremos o mais que as nossas pernas permitiam, mas o inimigo não nos alvejou. Já era quase noite quando por fim atingimos o planalto. O tio Virgílio estava à nossa espera e tinha visto o ataque dos jatos. Desde o planalto (ou base de Quiticura) até ao abrigo perto do pico, levam-se uns 40 minutos a subir. Ainda no planalto nós vimos o corpo de uma mulher que talvez tivesse sido metralhada por um avião. Mas o que quer que seja que a matou, não matara o seu bebé pois este estava vivo e chorava. Eu não me demorei, mas sei onde é o sítio. Os meus tios voltaram lá para ver o que se podia fazer e, depois de nós os três estarmos no abrigo, eles discutiram e disseram que não podiam fazer nada com este bebé. Ninguém tinha leite.
A criança que eu era não perdia um minuto a pensar no que agora relatei. Aceitava as coisas como vinham e apenas tentava não ser morto, o que dá trabalho e requer sorte, especialmente para os que se encontravam lá no píncaro da montanha, em Quiticura, entre outubro e novembro de 1978.
Em novembro de 1978, os nossos militares mandaram-nos dizer que a guerra em Matebian tinha acabado. Acrescentaram que os homens e rapazes podiam ir esconder-se nas florestas para continuarem a combater, mas era melhor que as crianças, mulheres e idosos se fossem entregar.
De facto, dessa vez o inimigo aceitou a nossa rendição e os sobreviventes foram autorizados a descer da montanha. As mulheres, crianças e velhos renderam-se; muitos rapazes e homens juntaram-se aos nossos militares e embrenharam-se na floresta.
Para mim, não existia explicação para o facto da nossa rendição ter sido aceite. Os invasores, que durante os três anos anteriores só quiseram matar, matar, de repente consentiram em ficar nas mãos com uns milhares de velhos, mulheres e crianças, ignorados de todos, doentes, esfomeados. Se nos tivessem matado a todos ali mesmo, não lhes tinha acontecido nada, pensava eu, e teriam poupado muita contrariedade futura.
Semanas mais tarde percebemos que essa aceitação não implicava uma mudança de planos; e muitos anos depois eu soube que a decisão de parar de matar os velhos e crianças que se rendessem em Matebian e em outros lugares de refúgio, se deveu ao facto das atrocidades cometidas pela tropa indonésia em Timor-Leste terem finalmente começado a transpirar para o exterior.
Quando descemos de Quiticura, passámos primeiro para a outra banda de Cailassissi (virada a poente) e depois tomámos o caminho que desce para Afassucului no fundo da encosta e que segue para Quelicai. Mas pouco antes de aí chegarmos, a meia-encosta, avistámos a carcaça de um cavalo na beira do caminho. Como eu não fazia ideia de há quantos dias a carcaça estava ali, não me interessei e o mesmo fizeram a tia Rosalina, o Manuel, a minha avó e outra gente. O tio Virgílio, que vinha atrás, não pensou da mesma forma e foi investigar. Ao chegarmos ao fundo, já perto de Ossomulai, resolvemos esperar por ele; e foi assim que o vimos descer, carregando uma grande quantidade de carne de cavalo! E a carne nem sequer cheirava mal.
Foi então que nos vieram dizer que a tropa estacionada em Ossomulai estava a revistar os homens e rapazes. Quem fosse apanhado com facas, grandes ou pequenas, era detido. E para além de revistarem, eles investigavam a identidade das pessoas e prendiam as que constassem das listas deles. Rapazes e homens novos, especialmente os que se apresentassem sem família, eram também detidos. Em vista disso, eu escondi a minha faca grande ali perto – e nunca mais regressei para a recuperar.
De facto, aí em baixo, em Ossomulai, os militares haviam montado um posto de controlo para prenderem os suspeitos e encaminharem o resto do povo para os seus novos acampamentos. Mas nós, antes de lá chegarmos, colocámos a carne em cima de umas brasas e comemos até ficarmos saciados.
E só então, já a tarde ia avançada, nos fomos entregar. Era preciso fazer fila e passar, um a um, diante do controlo. Os homens levavam muito tempo até os deixarem passar e o nosso grupo, com mais de 10 pessoas, demorou imenso a despachar-se.
Foi dessa forma que eu, com 10 ou 11 anos de idade, me rendi ao inimigo. Nessa ocasião solene era suposto eu entregar todo o armamento que possuísse. Em vez disso, passei pelo controlo com um canivete escondido na roupa.
Já o dia findava quando nos juntámos de novo e rumámos a Quelicai. Tinham-nos mandado apresentar na sede do posto, junto com o restante povo de Uaidora e de Manumé. Seguimos, pois, pelo caminho de Laumana e antes de lá chegarmos, não muito longe da nossa aldeia Uaidora, fizemos uma pausa para dormir pois já era noite fechada. Na manhã seguinte passámos por Lacudala1 e chegámos a Quelicai onde nos apresentámos ao comando da tropa ocupante, a qual nos mandou acampar num espaço do lado do nosso suco (Figura 2.1).
Entrei em Quelicai com uma galinha e 5 pintainhos nos braços, resultado de um encontro furtuito que tivera no caminho. Mas ao ver o que eu trazia, um militar aproximou-se e, no meio de muita conversa, estendeu-me uma nota de 500 rupias e levou embora a minha galinha e os pintainhos. Nem eu nem a minha avó conhecíamos o valor daquele dinheiro e por isso ainda guardamos a nota durante uns dias. Mas logo viemos a descobrir que 500 rupias não valem nada, são menos de um cêntimo. Foi esse o meu primeiro contacto com a tropa ocupante.
Quelicai parecia um quartel da artilharia, cheio de canhões, uns enormes, outros grandes e outros pequeninos. Alguns eram grossos e outros finos e compridos, em cima de camionetas – e havia muitos, dezenas. O povo dizia que o inimigo tinha um plano para nos queimar a todos em Matebian, mas não o executara porque, entretanto, nós descemos. O certo é que, se eles tivessem concentrado aquele poder de fogo num só lugar – Quiticura, por exemplo – ninguém que aí estivesse sobreviveria.
Um facto penoso e desconcertante que marcou essa primeira tarde foi descobrir que existiam crianças, timorenses como eu, que estavam ao serviço dos ocupantes e levavam esse seu papel muito a sério! Em Quelicai, perto da igreja de Santa Teresinha, existe uma fonte. Ao ir aí beber e trazer água para a minha família, encontrei um grupo de rapazes que, mais tarde vim a saber, pertenciam a uma organização, os TBO, que ajudava os invasores como adiante referirei. Enquanto aí estávamos, apareceu uma menina para vir buscar água. Então os tais rapazes TBO conheceram-na e começaram a gritar acusações contra ela. E aquilo de que a acusavam era de ela estar a ajudar os nossos militares! Perante isso, a menina fugiu muito depressa e desapareceu. Eu ainda me lembro dela, devia ter 17 ou 18 anos de idade.
Continuei a encher os recipientes e assim que me despachei, afastei-me dali. Depois de bebermos e comermos o resto da carne de cavalo, continuámos a andar e ao fim da tarde chegámos ao lugar que nos haviam destinado, da banda de Letemumo.
O primeiro que percebemos foi que não havia nada para comer e por isso começámos a ir todos os dias aos nossos quintais de Uatulalu e Ailímissi para recolher aquilo que os saldados indonésios não tivessem estragado. E num desses dias encontrámos uma mulher entrevada que não podia andar, mas que se arrastava com a ajuda das mãos. Ela já tinha conseguido descer de Matebian e parecia agora dirigir-se na direção de Quelicai. Mas, a andar daquela forma, ela iria demorar uma semana a chegar. Eu e o Mário não sabíamos de onde ela era e não conseguimos comunicar bem, pois ela não falava a nossa língua.
A mulher parecia estar irritada ou mesmo furiosa. Nós olhávamos para ela com compaixão. Ouvi depois dizer que havia gente a ajudar a mulher no seu caminho, cozinhando inhame e batata-doce para ela comer. Ali, ela trazia uns mangos e não tinha outra coisa. Quem sabe o que lhe terá acontecido? Talvez que a família a tenha abandonado em Matebian ou talvez que os seus parentes tenham morrido todos. Uma semana depois voltámos a vê-la. Olhámos para ela e ela teve uma reação negativa e perguntou “porque estão aí a olhar para mim?” Então o Mário respondeu que nós temos olhos na cara e usamos os olhos para ver todas as coisas que estão à nossa volta. E ela não nos respondeu mais.
Era apenas uma pessoa sozinha, incapacitada, a tentar adiar a morte. Nunca mais soubemos dela.
Para além de procurar comida, começámos a cultivar as terras que nos pertenciam e estavam na nossa aldeia. Eu fui sozinho tratar de um quintal em Adâe, perto de Ailímissi. No tempo dos portugueses, Adâe era um lugar de divertimento para crianças e jovens. Até tinha campo de futebol! Ao tempo da invasão, Adâe estava a ser usado como cooperativa para fazer uma experiência de cultivo comunitário, mas que durou menos de 2 anos.
Durante esses meses iniciais em Quelicai, a tropa ainda nos dava licença para cultivar as terras das aldeias de onde fossemos originários, desde que regressássemos ao acampamento antes do anoitecer. Mas penso que os ocupantes foram percebendo que os produtos que nós cultivávamos podiam também ajudar os membros da resistência porque, passados poucos meses, eles mandaram toda a gente concentrada em Quelicai retirar a comida que existisse fora de um perímetro guardado a toda à volta de Quelicai. A seguir, proibiram as pessoas de saírem desse perímetro guardado, mesmo durante o dia. As nossas terras, todas sem exceção, ficavam fora desse perímetro.
Os habitantes de Uaidora foram apanhados de surpresa pela ordem para remover dos campos tudo o que fosse comida. Ainda me lembro daquele dia, mais ou menos em abril ou maio de 1979, em que eu e o meu pai estávamos a trabalhar num quintal nosso em Uailau, quando um grupo numeroso de homens e mulheres veio ter connosco, e o que eles queriam era roubar os frutos que encontrassem no nosso quintal e em outros ali perto.
O meu pai só tinha uma catana para enfrentar toda aquela gente. Os homens começaram a dizer que os membros da resistência podiam aproveitar a comida para continuarem a luta contra os indonésios e por isso eles iam levar tudo. Então nós deixámos aquela gente levar a nossa mandioca e outros tipos de comida até nada restar. A partir daí, também nós começámos a procurar comida nos quintais que encontrássemos, e o mesmo fizeram todos os outros. Fora do perímetro guardado, nada pertencia a ninguém.
Devido à escassez de comida, depois dessa ordem a situação nos acantonamentos piorou de dia para dia, também porque a tropa, em vez da nossa comida, dava-nos um peixe seco que fazia mal. Quem comesse desse peixe, primeiro ficava com os pés inchados e depois as mãos e a cara também inchavam. Isso queria dizer que se ia morrer em breve. Para além do peixe seco, apareciam outras doenças. Na montanha, o povo havia passado grandes privações, muitos tinham respirado fumos maus e estavam enfraquecidos ou mesmo doentes.
Permanecemos aí em Quelicai, acantonados em abrigos provisórios, talvez uns seis meses; e durante esse tempo muitos morreram. Só em Quelicai, houve uma época em que morriam entre 10 e 20 pessoas por dia e estava a acontecer o mesmo nos acampamentos instalados em postos administrativos vizinhos como Baguía, Uatulari, Venilale, Ossú e Uatucarabau.
Alguns dos que se encontravam no acampamento connosco tentaram fugir. Um deles foi o Aleixo, meu antigo companheiro de bebida. Como em Matebian não existia mabuti, ele e os outros bebedores sofreram muito durante os meses em que ficámos cercados. Ao descermos da montanha, o Aleixo e o seu pai (esqueci o nome dele, mas sei que era idoso) permaneceram em Quelicai durante umas semanas, mas depois fugiram juntos, deixando para trás a família. É natural que julgassem que em Uaidora a comida e a bebida seriam mais fáceis de arranjar e tenham resolvido desembaraçar-se sozinhos. Não foram os únicos a cometer esse erro.
Antes da invasão, o Aleixo vivia em Muaura, um lugar vizinho de Uatulalu. Ao fugirem, ele e o pai não puderam instalar-se aí porque essas casas haviam sido queimadas. Eles então foram para Uatulalu onde encontraram um palheiro para se abrigarem.2
Visitei os dois, pai e filho, nesse casebre em Uatulalu. Eu sabia muito bem que o Aleixo e o pai não estavam em paz um com o outro. Existia algum problema entre eles. Por isso, embora partilhassem o mesmo teto, nunca dirigiam a palavra um ao outro. Os dois ficaram lá até morrer, talvez sem que a mulher e os filhos soubessem que eles precisavam de ajuda. Quem morreu primeiro foi o pai. Mais tarde o Aleixo também acabou por morrer.
Não sei, não quero saber, como foi que cada um morreu. Também não sei quem os terá ido enterrar. Talvez tenha sido alguma das pessoas que vagueavam pelos quintais. A mulher do Aleixo não conseguiu ir porque estava doente. Talvez os filhos, com outros familiares, tenham ido. E nem sei onde repousam, talvez em Faemuni, no nosso cemitério, que está perto.
Fugir não resolvia o problema da falta de comida, porque Uaidora estava demasiado perto de Quelicai e, como contei, o povo foi aos quintais próximos e levou toda a comida que podia ser encontrada com facilidade. Além disso, ficar sozinho piorava a situação das pessoas. Não podiam receber ajuda dos familiares ou de amigos e qualquer doença, qualquer dependência ou fraqueza, mesmo pequena, transformava-se num problema sem solução.
Depois do Aleixo, foi acontecer o mesmo ao Labilui! Durante a guerra, a família dele refugiou-se em Matebian mas em setembro de 1978, num dos muitos bombardeamentos que Cailassissi sofreu, o pai do Labilui foi morto,3 junto com outras duas pessoas que eu conhecia e várias outras que não conhecia. Após a rendição, a viúva desceu com os filhos, tendo sido colocados no acampamento que ficava da banda de Letemumo. E em Quelicai a mãe deles adoeceu e morreu também. Então o Fernando, o filho mais velho, resolveu ir-se embora dali e fugiu com os irmãos, Labilui, António e Maria, para Ailímissi, ao lado de Uatulalu, onde a família tinha a sua casa antes da invasão.
Antes de chegarem a Ailímissi, o Labilui e os irmãos permaneceram uns dias em Mabahagata, um lugar do caminho que vem de Quelicai para Uaidora e que fica a uns 15 minutos de Ailímissi. Foi aí onde primeiro encontrei o Labilui – e estava sozinho num palheiro de quintal. Disse-me que os irmãos se haviam ido embora e ele ficara para trás. Mas o que ele também contou foi muito feio: uma pessoa apareceu e obrigou o Labilui a dar-lhe a faca grande (a sita) e todas as suas outras posses. O Labilui usava a sita para preparar o comer. Dessa vez, só estive poucos minutos com ele: tinha de voltar depressa para Quelicai porque já era tarde e ninguém estava autorizado a ficar fora do acampamento depois do pôr do sol. Não lhe dei comida e reparei que ele ainda tinha alguns frutos que podia comer. E não sei como ele depois foi para Ailímissi, talvez os irmãos o tenham vindo buscar.
Ora aconteceu que o padre João de Deus mandou recolher as crianças desamparadas para serem entregues no orfanato anexo à Igreja de Quelicai (Figura 5.1). O meu pai chamou o Fernando e disse-lhe para se apresentar no orfanato com os irmãos. Eles foram, mas, mais uma vez, deixaram o Labilui para trás! Ele ficou abandonado dentro de uma das poucas cabanas que ainda estava de pé em Ailímissi.
E foi aí, semanas depois, onde o encontrei de novo. O Labilui disse-me que estava com fome e pediu para lhe trazer comida. Contou-me que os irmãos o haviam deixado ali e nunca mais o tinham vindo buscar. Eu disse-lhe que ia procurar comida. Consegui ir lá três vezes apenas, porque a tropa, a partir dessa altura, já não nos permitia sair. A comida era escassa, só consegui batatas pequeninas. Eu preparava-lhe batata queimada, “siaguisa” na nossa língua. O Labilui comia, mas não conseguia pôr-se de pé.
Da primeira e da segunda vez que consegui voltar, ele comia toda a siaguisa que lhe dava. Mas da terceira vez ele não comeu. Perguntei-lhe: “Por que razão não come nada?” Ele respondeu que estava com sede. Ele sabia que o meu pai costumava guardar vinho de palma ali perto e por isso pediu-me para beber um pouco desse vinho. O Labilui não queria pedir água porque a fonte era longe.
Disse-lhe então: “Se desejar, eu vou buscar-lhe água.” Ele acedeu. Levei uns 20 minutos a trazer água e, depois de beber, ele sugeriu-me que eu voltasse lá no dia seguinte para lhe dar alguma comida já que nessa altura, explicou, ele não conseguia comer.
Mas foi difícil voltar. A tropa tinha decidido deportar-nos para outro local longe dali, e também nos vigiavam mais. O pior de tudo era que eu agora estava a precisar de atender a muitas doenças que haviam irrompido na minha família. Quando consegui regressar, o Labilui estava morto.

Sabia bem que o Labilui estava morto, mas eu era criança e não o ia conseguir enterrar. O corpo dele não foi enterrado por ninguém: foi queimado por uma pessoa não identificada, talvez o tio Tomás Aquino, que era também tio dele. A casa foi queimada com o corpo de Labilui lá dentro. Essa casa, um simples abrigo, pertencia à mãe do Mário e da Agostinha. Eles tinham sido deportados para longe e a tropa não os deixava voltar.
Os irmãos do Labilui não conseguem explicar por que razão o deixaram para trás. Eram crianças, estavam sozinhas e esfomeadas, tinham perdido os pais, não conseguiram pensar.
O Labilui tinha poderes, mas dependia inteiramente dos outros. Em situações como esta que nós atravessámos, a ligação entre as pessoas desaparece e quem é dependente, morre. Eu bem sabia que o Labilui não ia conseguir viver até ao fim dos seus dias, mas fiz a minha parte diante de Deus. Tentei cuidar dele, mas por fim morreu. O Aleixo e o pai morreram entre janeiro e abril de 1979 e o Labilui deve ter morrido entre junho e setembro desse ano. Sei que foi assim porque o Aleixo e o pai ficaram sem comida na estação húmida (que é a pior), ao passo que, quando ajudei Labilui, estávamos já na estação seca, no tempo da batata-doce.
Alguns meses depois de descermos da montanha, começámos a receber “mosino”, uma pasta feita com farinha de milho. Essa comida era boa, mas durou pouco tempo pois, como referi, em maio ou junho de 1979 a tropa mandou-nos sair de Quelicai e instalou-nos a uns 6 ou 7 quilómetros mais a norte, num sítio estranho onde não havia nada. Era um deserto a que chamámos Alolui ou Cumbua, já bem dentro do suco Baguía, do outro lado do monte Laualiu. (Figura 1.3).
Para além de Uaidora e Manumé, foi também deportada a população das outras aldeias. Ninguém que antes vivesse longe de centros urbanos foi autorizado a regressar aos seus lugares de origem. De todos os crimes cometidos pelos invasores, e foram muitos, a deportação forçada da população rural para aldeamentos vigiados e o consequente despovoamento de regiões que antes haviam sido densamente povoadas, foi talvez o que trouxe piores e mais irreparáveis consequências ao povo de Timor-Leste. Aí ficámos, sem nada para comer, sem apoio médico – mas bem vigiados. A mortalidade, que já era grande, aumentou ainda mais.
Foi nesse ano de 1979, já em Cumbua, que morreram a minha irmã Noiloi, o meu irmão Manuel, a minha avó Labunae (Alda, viúva de Uatubada, e que estava a meu cargo), o tio Virgílio e outros familiares. Todos eles morreram de doença, sem que tivéssemos um médico para os socorrer. Era uma mortandade o que estava a acontecer por todo o território de Timor-Leste: segundo um conhecido meu,4 todos os membros das 4 famílias de que é descendente morreram. Mais de 20 pessoas e ninguém sobreviveu.
Enquanto durou a estação seca, até novembro desse ano, nós íamos com regularidade a Uaidora, Manumé e outros lugares buscar inhame, batata-doce e outros frutos; e também cortávamos bananeiras novas. Assim fomos sobrevivendo. Mas, a partir de dezembro e especialmente durante os meses negros de janeiro a março de 1980, deixou de haver comida e passámos mal em Cumbua.
Para os que se haviam refugiado na floresta, os anos de 1979 e 1980 não foram melhores. O que restava dos nossos militares, junto com os homens e os rapazes que tinham conseguido sair de Matebian, deambulavam pelas regiões despovoadas. Era gente acossada, sem comida, sem roupa, sem comando e sem apoio. A maioria nem armas tinha! Existiam traidores por todo o lado, de modo que eles não podiam confiar em ninguém. E o inimigo havia deportado o povo para aldeamentos perto das sedes da administração, onde eram vigiados e impedidos de apoiar a resistência.
Vou agora contar um triste feito de que o meu tio António foi protagonista quando andou pela floresta integrado num desses pelotões da resistência. O que ele fez (ou teve de fazer) mostra bem como eram os tempos e as pessoas. O tio António morreu na década de 1990, não me lembro bem a data; mas antes de morrer contou-me pessoalmente esta sua triste recordação.
Tal como o meu tio Julião, o tio António era homem possante. Poucos em Uaidora eram tão fortes. Só não foi militar português pelo facto da estatura dele não atingir o mínimo necessário. O cunhado do tio António chamava-se Francisco e era membro do mesmo pelotão da resistência. Conheci bem o Francisco, irmão mais novo do comandante Pedro Soares, um parente nosso que morreu em combate durante a defesa de Quelicai, por volta do ano de 1977, como referi. O tio António tinha uns 30 anos de idade naquela época, mas o Francisco era ainda rapaz, tinha mais 4 ou 5 anos do que eu.
O pelotão deles estava estacionado numa zona desabitada, na fronteira de Quelicai com Ossú e Venilale. Tinham conseguido sair de Matebian sem serem intercetados e foram acampar nessa zona por ser um lugar escondido. Um dia, encontraram um grupo civil de 12 pessoas, composto só de homens. O comandante do pelotão ordenou que esse grupo fosse capturado e assim foi feito. Depois de manietados, os 12 homens foram interrogados. O comandante perguntou se eles estavam a mando dos indonésios e o grupo não respondeu nada. O comandante perguntou outra vez se o grupo estava a trabalhar para a Indonésia, ao que eles não responderam nada. E ainda fez outras perguntas sem obter qualquer resposta.
Posto isto, o comandante mandou o Francisco, que era o mais jovem do pelotão, cortar a cabeça a esses 12 homens ali mesmo, em frente dele. Mas o Francisco, jovem como era, não teve coragem para executar a ordem recebida. Ficou calado e quieto sem fazer nada. Então o comandante pegou na lança de ponta aguçada para matar o Francisco e punir assim a sua desobediência porque, segundo ele explicou, se o Francisco não tinha coragem, então não servia para a resistência.
Já com a lança na mão, o comandante insistiu que o Francisco tinha que cortar a cabeça ao grupo todo. Então, o tio António, que era o cunhado do Francisco, foi pedir, como um favor, que o Sr. Comandante não matasse o Francisco só por ele ser ainda rapaz e não ter força para cortar uma cabeça como deve ser, quanto mais 12 cabeças. Em contrapartida, o tio António prontificou-se a cortar a cabeça às 12 pessoas. E argumentou que o Francisco, depois de crescer uns meses, também já ia ter força para cortar tantas cabeças quantas o Sr. Comandante mandasse.
O comandante acedeu ao requerimento e o tio António pegou numa espada de luta (era, segundo ele julga, um sabre de militar português) e depois de ver como estava o fio, foi diretamente cortar todas as cabeças desses 12 homens, ali mesmo em frente do comandante. O tio António disse que as cabeças, à medida que iam sendo cortadas, comiam as pedrinhas do chão: os dentes batiam nas pedrinhas do chão e faziam um barulhinho. O comandante ficou contente por o tio António ter cumprido a ordem. E foram-se embora dali, deixando os 12 corpos sem enterrar.
Segundo ouvi dizer, poucos conseguem cortar uma cabeça de um só golpe, mesmo com um sabre em boas condições. E cortar 12 cabeças assim seguidas, à primeira, não é fácil. O Francisco sabia-o; e esse comandante também sabia que, se uma pessoa sem força nem treino tivesse que executar a sua ordem, o resultado ia ser horrível. Portanto, esse comandante estava cheio de maldade; mas teria sido muito pior se o tio António não se tivesse oferecido. Ele era forte, atirava um cavalo ao chão.5 Era tão forte como o tio Julião, que podia segurar num búfalo enquanto outras pessoas o sangravam. O tio Julião fez isso muitas vezes, eu vi.
O tio Julião e o tio António eram amigos, gostavam da companhia um do outro. Frequentei muito a casa do tio António em Cumbua. Não sei se, mais adiante, o Francisco chegou a batizar-se e a casar; o tio António, sim. Quando por fim adoeceu, levámo-lo para o Hospital de Baucau, mas os médicos não o conseguiram salvar e morreu talvez com uns 50 anos de idade, se tanto. O Francisco também já morreu, mas não sei como, nem em que ano. Parece-me que foi de doença. A história de Timor-Leste durante esses anos negros está cheia de episódios como este, mortes e mais mortes sem motivo, sem pretexto, como se o único fim fosse fazer mal.
Durante os primeiros meses em Cumbua, de maio de 1979 a março de 1980, só tínhamos um objetivo – não morrer à fome. Já não encontrávamos nada que nos pudesse servir de alimento; e a comida que antes se conseguia achar em Uaidora ou Manumé, há muito que se havia esgotado. Agora, se queríamos encontrar alimento, precisávamos de procurá-lo mais longe, cada vez mais longe, a sul de Matebian, já bem dentro do suco Laissorulai. Partia-se cedo, às 3 ou 4 horas de manhã, e voltava-se para casa às 7 horas da noite. Regressar com comida pesada é desgastante; e depois de se descansar durante alguns dias, lá se partia de novo para procurar comida. Tudo isto tinha que ser feito às escondidas, porque a tropa ocupante, se a princípio deixava o povo sair dos acampamentos durante o dia, depois passou a matar quem fosse encontrado nos antigos quintais, mesmo de dia.
As crianças não tomavam parte nas expedições que descrevi. Aquilo que nós fazíamos, mesmo desde antes de sermos colocados em Cumbua, era cortar bananeiras novas para cozinhar e comer. Durante quase um ano, foi isso o que fizemos para sobreviver, ao ponto de quase todas as bananeiras terem desaparecido da região.
Também cortávamos o tronco das palmeiras que produziam tua mutin para comer a polpa, que era branca, saborosa e alimentícia. Lembro-me de termos feito isso, mesmo desde antes da nossa fuga para a montanha e de o continuarmos a fazer depois da nossa rendição. Acredito que, enquanto estiveram em Ailímissi, o Labilui e os irmãos tenham também cozinhado bananeira nova pois obter outro alimento era difícil: três horas de busca no campo não chegavam para conseguir uma refeição de batata-doce.
A seguir, nós, as crianças, começámos também a fazer surtidas para procurar comida. Em vez de irmos para sul, seguíamos na direção poente e explorávamos lugares desertos, onde muitas famílias haviam vivido no tempo dos portugueses. Começámos por Caifámuni e Defadae, já perto da grande ribeira que divide ao meio o suco Macalaco.6 Em Defadae não há água e lembro-me de comer frutinhos de tomates selvagens para aliviar a sede.
Quando a comida em Caifámuni e Defadae se esgotou, nós descemos até Iarubu, ainda mais dentro do suco Macalaco. Em Iarubu nós começámos a encontrar cadáveres já secos. Andavam pessoas à solta nesta parte de Macalaco. Elas matavam os intrusos para que não lhes levassem a comida.
Sim, nesse tempo houve gente que foi morta por causa da comida. Uns reclamavam que a comida encontrada em quintais abandonados lhes pertencera, fora cultivada por eles e, portanto, agora os frutos eram deles e de mais ninguém. Outros respondiam que a comida estava abandonada na floresta, que não havia comida em Quelicai; e outra razão era que a tropa tinha mandado recolher toda a comida que ainda restasse nos quintais.
Uma vez, eu e o José Gusmão, a quem chamamos “Tamboro” e é tio do Roberto Soares, fomos os dois para os lados do suco Macalaco a fim de arranjar comida para o pequeno-almoço. Trepei a uma árvore de mango, alta, talvez com mais de 10 metros, para apanhar os frutos. De repente, apareceu por baixo da árvore um homem empunhando uma espada de luta. O Tamboro estava fraco e era de idade avançada; por isso ficou ali mesmo sentado debaixo da árvore a comer um mango que eu lhe tinha atirado. O homem então disse iradamente que o Tamboro estava a comer os frutos dele. O Tamboro sempre ia comendo, mas ao mesmo tempo não parava de falar. A conversa dele era assim: “Vou morrer cedo! Que tristeza! Mas ainda tenho este fruto de mango. Então, preciso de comê-lo depressa antes de morrer.”
Pela minha parte fiquei quieto e calado a pensar na situação perigosa em que estávamos. A minha esperança era que o homem da espada não olhasse para a copa da árvore. Lembro-me de que fiz planos, enquanto estava empoleirado lá no alto, sobre o que devia fazer quando ele descobrisse que havia um rapaz escondido na ramagem. Ele iria certamente mandar-me descer; mas decidi que jamais iria obedecer-lhe e quando ele fosse a trepar para me apanhar, antes dele se aproximar eu iria acertar-lhe com frutos de mango; e depois lutaria com ele em cima de árvore, com a faca que tinha trazido. Estava convencido de que no fim ele nos ia matar aos dois, mas antes disso eu queria fazer alguma coisa.
Graças a Deus o homem nunca se lembrou de olhar para a copa da árvore! Depois de lhe passar a raiva, ele mandou o Tamboro ir embora dali. Parece-me que ficou distraído com a conversa que ouviu e quando se está distraído já não se consegue matar. “Matar tem de ser logo”, sempre ouvi dizer. Depois do homem desaparecer, desci e regressei a casa com mais alguns mangos.7
O homem podia muito bem ter-nos matado aos dois: neste mesmo lugar era onde mais gente desaparecia e várias pessoas dos sucos Lelalai e Abo, cujos habitantes haviam sido deportados para aldeamentos perto do nosso, foram mortos em Macalaco segundo ouvi contar, mas não vi.8
Depois de termos também esgotado as redondezas de Macalaco, começámos a procurar comida muito para sul, já dentro do suco Lelalai (que fica ainda mais a sul do que o suco Laissorulai), em lugares que na nossa memória ficaram famosos por termos aí conseguido finalmente saciar a fome, e eram conhecidos pelos nomes de Irua’a e de Desá. Em Irua’a existia boa comida, especialmente “combili”, o tubérculo que se desenterra junto das raízes de certas árvores.9 Comida saborosa!
Na estação da chuva estes tubérculos não se encontram e na época seca (a partir de junho), como toda a gente anda à procura deles, gastam-se horas para conseguir uma mão-cheia. Alguns combili são grandes, podem chegar a ter o tamanho de uma cabeça; mas para se encontrar desses é preciso ir para bem longe! Nós comíamos combili depois de o cozinhar em água e deitávamos sempre muita água para ficarmos com a sensação de termos comido mais.
Em Irua’a e Desá existiam bons frutos de coco. Eu trepava aos coqueiros e a outras árvores de fruto e assim me saciava, a mim e a familiares. Sendo o tempo da seca, em que é difícil ter água, ter frutos de coco para beber com os amigos foi um grande alívio. Mas desde Irua’a e Desá até Cumbua (o lugar deserto para onde nos haviam deportado) são várias horas a andar, e à volta é pior porque vínhamos sempre carregados com comida pesada.
Outra comida da estação seca era o camarão, o qual só ficava acessível quando as ribeiras não levavam muita água. Tanto eu como alguns primos e amigos10 havíamos, antes da invasão, apanhado camarão nas ribeiras de Uaidora e Ranissi. Quando nos deportaram para Cumbua, nós íamos procurar camarão nas ribeiras de Cumbua e de Tabere da aldeia Lebenei e, quando a apanha era boa, juntávamo-nos todos num quintal e fazíamos uma festinha da qual saíamos reconfortados.
Além de mim, do Francisco Xavier e do Ricardo Boavida, o grupo do camarão incluía o Januário dos Santos, um sobrinho dele e outros. Ajudávamo-nos uns aos outros e assim o trabalho rendia. Tentei apanhar camarão sozinho, mas trabalhava muito e rendia pouco. O Ricardo Boavida, sim, ele era o mais apto para esse tipo de tarefa: os camarões vinham ter com ele.
Vou agora acrescentar um dado que me esqueci de referir antes. Nós, as crianças e até alguns homens, nunca usávamos sandálias ou sapatos: andávamos descalços. Se permanecêssemos em zonas limpas e sem animais à solta não havia perigo; mas estas nossas excursões levavam-nos por matos e florestas abandonadas, cheias de plantas espinhosas, com o chão coberto de coisas cortantes e dejetos. Podíamos ter apanhado infeções, mas nem eu nem os meus amigos nos magoámos. Deus quis proteger-nos! Hoje já não consigo andar descalço, nem subir às árvores, nem fazer coisas que em criança fazia sem pensar duas vezes.
Foi também durante este período que o povo, na urgência por comer, começou a destruir florestas que haviam levado muitos anos a crescer e das quais a subsistência de todos dependia. Já referi o exemplo das bananeiras e das palmeiras. Mas a floresta foi a que mais sofreu. De facto, para sobreviver durante esses primeiros meses em Cumbua, começámos também a cintar árvores para arranjar lenha e depois vender.
“Cintar” é fazer um corte, que não precisa de ser profundo, a toda a volta do tronco de uma árvore. A árvore então morre e seca depressa, podendo ser usada como lenha. Nós cintávamos árvores porque a tropa trocava lenha por restos da refeição deles e às vezes não havia outra forma de sobreviver. Para além de vender à tropa, também conseguíamos vender lenha no bazar de Quelicai para comprar arroz bom (sem estar já cozinhado) mas era raro que tivéssemos clientes.
Este costume de cintar árvores está hoje muito espalhado em Timor-Leste pois a lenha vende-se bem e há gente que deixou de trabalhar a terra e só faz isso. Desta forma, muitas encostas que antes da invasão se encontravam arborizadas e sombreadas, hoje estão despidas e expostas ao sol.
Foi em 1979 e 1980 que vendemos mais lenha. Depois de cortar, era preciso carregar toda a lenha ao longo de vários quilómetros, talvez uns dez, até chegarmos a casa. A seguir, a lenha era partida em pedaços menores e levada para vender em Quelicai. No caminho, alguma gente queria trocar lenha por milho ou outra comida. Isso acontecia normalmente com a população do suco Baguía na parte de Rubiquili,11. O povo de Rubiquili tinha bons frutos e milho porque eles, vivendo perto de Quelicai, não foram deportados e continuaram a morar nas suas próprias terras.
A deportação desfez o modo de vida do povo e conduziu à delapidação de recursos dificilmente renováveis. Antes, a aldeia dava alimento às pessoas e, depois de eles terem morrido, a aldeia continuava a alimentar os seus filhos e netos. Pelo contrário, o modo de vida imposto pelo ocupante levou à destruição rápida da floresta e de outros recursos. Os sobreviventes que, anos mais tarde, tentaram regressar às suas terras, tiveram de começar sem nada, como se estivessem num deserto ou numa terra selvagem. Muitos desistiram e dedicaram-se a vender lenha pelas beiras das estradas ou a receber apoios. Um grande número emigrou para as aglomerações urbanas. A maioria dos sucos e aldeias de Timor-Leste esvaziou-se de gente. Em vez de encostas sombreadas, vivas com o som de muitas conversas, risos e o chilrear de pássaros, o que temos agora são elevações pedregosas e poeirentas, calcinadas pelo sol e onde até o silêncio é estranho.
Em Cumbua, a tropa tinha-nos dado terras para cultivar a alguns quilómetros do acampamento. Desde o primeiro dia, o povo trabalhou sem descanso. Os ocupantes tinham-nos dito que só estávamos autorizados a cultivar as terras que se encontrassem dentro do perímetro vigiado que existia ao redor de Quelicai. Porém, a partir de 1980, nós também cultivámos terras que estavam fora desse perímetro.
Primeiro, desobedecemos um bocadinho apenas e cultivámos terras que estavam a um quilómetro para fora da linha. Como não aconteceu nada, no ano seguinte já cultivámos mais longe e esta proibição, como várias outras, deixou de nos preocupar. Íamos para longe porque queríamos matar árvores para podermos vender lenha no tempo seco, e no tempo de chuva queríamos plantar mais milho, abobora e outros vegetais.
Até dezembro de 1979 fomos sobrevivendo com os expedientes que atrás referi. Mas à medida que a estação das chuvas progredia – e especialmente a partir de janeiro de 1980, deixou de valer a pena procurar comida onde quer que fosse, porque não havia. Ao mesmo tempo, as forças ocupantes tinham-se tornado mais rigorosas e vigilantes. A altura em que o povo passou pior foi, portanto, o início de 1980. Entre janeiro e março desse ano, nós até comíamos erva e folhas de árvores que não conhecíamos e por isso algumas vezes ficávamos envenenados.
Num dia em que a fome era muita, o Francisco Xavier veio ter comigo e disse: “Vamos à escola – mas só para comer!” E lá fomos os dois.
Existe em Quelicai uma escola dirigida pelo padre João de Deus. Ora nessa escola havia comida que a ONU dava. Durante vários meses, de inícios de 1980 até setembro desse ano, palmilhámos todos os dias o longo percurso de duas horas de ida e volta a Quelicai, apenas com um prato de zinco e uma colher na mão. Chegávamos à escola, comíamos e regressávamos a Cumbua. Não queríamos estudar, não queríamos saber de nada que não fosse comer.
A partir de março ou abril de 1980 começámos a colher os frutos da terra e a nossa situação melhorou. Se durante um ano e meio após a rendição passámos necessidade extrema e estivemos em risco de morrer, no ano seguinte já tínhamos o suficiente para sobreviver. Fizemos casas, campos de milho (não dava para arroz), cultivámos batata, mandioca, criámos galinhas e porcos. Mas não tínhamos cabritos nem búfalos e só mais tarde viemos a ter cavalos. Além de milho, batata, mandioca, nós tínhamos outras comidas de que vou referir três. A “Bula” é uma pequena árvore com muitos frutinhos e que dá fruto no verão. Cozinha-se com casca e depois abre-se a pele e come-se. Da papaia ou “Caidila” podem-se comer os frutos, as flores e as folhas. O que mais comíamos, tanto no tempo seco como no da chuva, era papaia com mandioca. A “Gala” tem pele sarnosa: quando tocamos faz comichão. Dá fruto no verão. É boa comida, mas a sua preparação é trabalhosa. Pode-se comer madura ou seca. Quando está madura, podemos cozer as sementes novos com pele e depois precisamos de abrir as peles e colocar na água corrente para limpar o veneno durante uma noite inteira. De manhã podemos levar para cozinhar de novo e comemos as sementes e também as peles. Dá para guardar, como o milho e o arroz, e por isso podemos comê-la no tempo de chuva. O “Fahe Cula” (cula quer dizer cogumelo) é muito saboroso, raro e difícil de obter. Em Uatulalu nunca o encontrei, só em Cumbua. “Fahe” é uma relva que se usa na cobertura das casas e foi importante porque em Cumbua não havia outra coisa que pudéssemos usar. Só esta fahe tem o cogumelo especial, mas para encontrá-lo é preciso tempo e tem espinhos afiados, o que torna difícil a procura.
O Francisco Xavier e eu, que antes íamos à escola só para comer e não tínhamos tido vontade de estudar, finalmente desejámos aprender. Passámos a ir à escola para ter aulas, já sem a recompensa da comida, recompensa essa que, diga-se, só era concedida durante o primeiro ano de escola.
Na “Escola Primária de Santa Teresinha do Menino Jesus”, que assim é chamada, estudavam umas 300 crianças de idades muito variadas, distribuídas pelas salas segundo o que cada uma sabia, em vez de ser por idade. Em teoria, aprendíamos a língua indonésia (“bahasa-indonesia”), que era obrigatória, mas como os professores não conheciam a língua (eram do tempo dos portugueses), nesse ano nós só aprendemos as letras, os números e pouco mais. Para os que queriam adquirir instrução – como era o caso das crianças e adolescentes sem exceção – aprender tornou-se difícil.
Com comida e casa, as nossas duas aldeias, Uaidora e Manumé, finalmente conheceram um mínimo de conforto. As crianças iam para a escola cada vez em maior número. De Cumbua para Quelicai costumávamos caminhar juntos. Mas os ocupantes não nos deixavam em paz! As interferências eram constantes e nunca sabíamos o que eles iriam inventar no dia seguinte. Para além da deportação, o povo viu-se obrigado a colaborar com o inimigo de várias maneiras, todas elas abusivas e quase todas absurdas.
No caso das crianças e adolescentes, essa colaboração traduzia-se em trabalhos forçados. Assim que descemos de Matebian, logo desde a primeira hora, a tropa começou a obrigar-nos a prestar-lhes ajuda. Era suposto servirmos como carregadores de munições e outros materiais de guerra ou comida e roupa, sempre que a tropa saísse do aquartelamento. Mas na prática as crianças e adolescentes eram usadas como criados pessoais e ficavam permanentemente ao serviço de militares concretos e seus familiares para tudo o que eles mandassem. Oficialmente, o nome desta instituição de escravatura infantil era “tenaga bantuan operasi” (ajuda por meio da operação física) ou TBO. O tempo de trabalho forçado durava no mínimo um ano, mas em geral prolongava-se até a tropa ser rendida.
As nossas crianças foram obrigadas a permanecer durante vários anos como TBO, tendo sido vítimas de graves e frequentes abusos, desde maus tratos a assassinatos. Segundo a lei deles, o TBO tinha limitações. Não era suposto a tropa requisitar os que tivessem menos de 12 anos de idade e, em teoria, só jovens que não estivessem inscritos em escolas ficavam expostos a esta requisição e muitos desses escondiam-se quando sabiam que os militares os procuravam. Na prática, as regras foram quase sempre ignoradas.
Ainda em Quelicai, em 1979, tinha eu onze anos se tanto, dois tropas quiseram obrigar-me a ir com eles, mas fiz-me desentendido (naquele tempo não sabia uma palavra da língua deles) e finalmente deixaram-me em paz. Em 1983, em Cumbua, foi pior: um grupo grande de militares mandou-me ir com eles. Dessa vez disse-lhes: “Vou perguntar ao meu pai e à minha mãe se eles me dão licença. Se derem, então poderei ir prestar ajuda.” O que eu queria era mostrar que a minha ausência seria notada por alguém e, ao mesmo tempo, arranjar testemunhas. Deu resultado porque os militares vieram comigo pedir licença e, é claro, a pessoa que então tomava conta de mim, o tio Julião, não só não deu licença como aproveitou para informá-los de que eu estava a estudar – e até disse o nome da escola, uma instituição da Igreja. Com isso, eles devem ter concluído que era arriscado obrigarem-me e foram-se embora.
Alguns dos meus primos que tinham passado pela experiência de “ajudar” a tropa, já nos haviam alertado para a dureza e perigos dessa ajuda. Mesmo assim, certos jovens quiseram ir porque julgavam que iam receber comida, roupa, dinheiro, aprender a língua indonésia e progredir na vida. Eles haviam perdido a esperança, a Indonésia era o futuro; e não se apercebiam, ou não quiseram perceber, que o ocupante só tinha um sentimento para connosco, o desprezo. Aquilo que por várias vezes aconteceu com eles foi diferente do que esperavam: eram sujeitos a maus tratos, eram abusados e muitas vezes mortos na floresta – e as famílias nem sequer eram informadas da sua morte e do lugar onde seus filhos haviam sido enterrados. Foi isto o que se passou com o meu primo Manuel, o filho mais velho dos tios Virgílio e Rosalina. Ainda hoje não sabemos onde ele terá morrido, nem quando, nem como. Não sabemos nada. O Manuel era mais novo do que eu. Começou a “ajudar” a tropa no ano de 1982 e desapareceu logo a seguir.
A tropa também procurava a todo o custo usar timorenses para descobrir e combater os membros da resistência: queriam por força que nos matássemos uns aos outros – mais ainda do que já é habitual entre nós. Um dos grupos que eles formaram para o efeito chamava-se “Hansip” e apareceu ao mesmo tempo que o trabalho forçado das crianças. O Hansip era paramilitar. Tinha armas, uniforme, mas não usava divisas e integrava homens com 20 anos de idade ou mais. Ao serem dispensados, os TBO eram a seguir chamados para os Hansip. Por várias vezes, os seus membros saíram de Quelicai em missões de guerra para descobrirem e combaterem a resistência, ajudando assim os ocupantes. E no fim, o salário que receberam por essa sua traição foi muito baixo.
Outro grupo que a tropa pôs de pé na mesma altura chamava-se “Wanra” ou “perlawanan rakyat” (povo contra a resistência). O Wanra seguia atrás do Hansip e não tinha armas. A tropa treinava os seus elementos no campo do posto administrativo de Quelicai. Como em outros casos, era suposto este grupo ser voluntário, mas na verdade era obrigatório porque, se não aparecessem voluntários em número suficiente, os militares obrigavam os que estivessem à mão a juntar-se ao Wanra.
Naquele tempo, muitos homens não tinham trabalho ou dedicavam-se ao cultivo de algum quintal que encontrassem. O inimigo aproveitava esta gente para o serviço da tropa. Alguns dos TBO que voltaram de “ajudar” a tropa, também se juntaram à Wanra. Sei que não recebiam dinheiro e penso que eram apenas uma espécie de reserva militar; mas havia comida e roupa.
Por causa do TBO, jovens houve que não foram estudar e perderam essa oportunidade para sempre porque, depois de se livraram do TBO, a idade já era avançada. Alguns dedicaram-se a trabalhar no campo enquanto outros se juntavam ao Wanra.
Mas há mais: por volta de 1982, todos os homens ainda fortes, incluindo estudantes com idades acima dos 12 anos, foram obrigados a fazer um mês de operações conjuntas com os militares indonésios. Não consigo dizer quantas pessoas fizeram parte dessa operação. Tudo o que sei foi-me contado pelo tio Julião. Ele e outros tios e amigos foram obrigados a ir.
A operação estava dividida em dois grupos, um que partiu do lado oeste da ilha e outro que partiu do lado leste. De oeste vieram os habitantes desses municípios, junto com alguns batalhões indonésios. Avançaram para leste de mãos dadas, fazendo um cordão e tentando cobrir o território todo, de norte a sul. O seu destino era Aitana, o centro geográfico de Timor-Leste. Do outro lado, partindo de Lospalos até chegarem a Aitana, toda a gente dos municípios situados a leste da ilha fez o mesmo, mãos com mãos, de sul a norte, no sentido oposto.
Era uma dessas ideias grandiosas e absurdas que tanto agradava ao inimigo. O objetivo era capturar à mão todos os membros da resistência como se fossem peixes numa rede. Eu não fui porque o meu pai requereu uma licença à autoridade militar tendo por fundamento o facto da nossa casa estar perto da fronteira do suco, junto de florestas desabitadas. Ele fez notar que eu era preciso para guardar aquela zona. Como referi, eu e outros estudantes da mesma idade éramos obrigados a fazer de guarda-noturno para que a tropa pudesse dormir à noite.
A operação capturou alguns membros da resistência, mas não muitos. Segundo aquilo que os meus tios contaram, os da resistência faziam ligação com o povo e passavam pelo meio deles durante a noite. Foi fácil, porque à noite a tropa não saía dos seus acampamentos e era o povo quem ficava na linha, cada um no seu lugar, mas sem serem vigiados. Isso roubou toda a eficácia à grandiosa operação. Segundo contou o Mateus Gusmão, um amigo da minha idade hoje empresário em Baucau, foi duro, porque o caminho era longo e tinham de carregar comida, água, roupa e outras coisas. Tanto esforço, tanto tempo perdido, para nada.
Todos nós reparávamos no facto da tropa, depois de pôr de pé uma organização enorme, custosa e que obrigava o povo a fazer sacrifícios, ela própria se encarregava de arruinar tudo com desleixos ou então com ordens impossíveis de cumprir e que, claro, nem eles próprios cumpriam.
Não foram estas as únicas interferências que sofremos por parte dos ocupantes. Eu devia agora narrar as incursões do inimigo no foro religioso – e os estranhos resultados que daí advieram. Mas antes de continuar com o assunto vou ter de relatar dois factos importantes. O primeiro foi o encontro do tio Julião com o Daitula, um comandante das nossas forças, cujo nome verdadeiro era David Alex. Isto deve ter acontecido em 1982 e mostra o clima de tristeza e desesperança que se instalara entre o povo e a forma como os nossos militares tentavam ir criando ligações com os elementos que mais pudessem ajudar.
A partir da data em que fomos subjugados e nos rendemos (novembro de 1978) os nossos militares e os outros homens e rapazes combatentes que se tinham refugiado nas florestas, foram-se organizando e por fim criaram as “Forças Armadas de Libertação Nacional de Timor-Leste” ou FALINTIL. Porém, durante esses duros anos de reorganização e privações, também apareceram grupos de vagabundos e criminosos que não queriam obedecer aos nossos comandantes, preferindo deambular pelas florestas e assaltar tanto indonésios como o povo. A esses, nós chamávamos “ninjas”.
Num belo dia pela manhã, o tio Julião e o Amândio tomaram a dianteira e foram lavrar. Eu, o tio Julião, o Tio António e o primo Amândio, em geral trabalhávamos juntos, mas depois de ter entrado na escola eu deixei de ir com eles. Ora os homens do Daitula estavam no campo de lavoura à espera e levaram-nos embora sob escolta. Quando o tio António lá chegou e percebeu que os dois da frente tinham desaparecido, regressou a casa e informou-nos. Nós esperámos sem resultado enquanto a incerteza aumentava. Eram muitas as coisas que lhes podiam ter acontecido e nenhuma delas era boa. Por fim lá apareceram e viemos então a saber que tinham sido capturados às ordens do comandante Daitula e levados para “ailaran”, isto é, para um lugar na floresta cujo nome não se pode revelar. De facto, os homens do Daitula levaram o meu tio e seu sobrinho para Desá, perto de Irua’a, um lugar que, como contei, tanto o tio Julião como nós todos conhecíamos bem.
Quando chegaram aí, aconteceu que o Daitula e o tio se reconheceram. Eles eram parentes e cada um lembrava-se bem do que tinha feito ou não tinha feito ao outro. Parece que, por sorte, nunca se tinham dado muito mal, mas isso não mudava nada, antes piorava a situação do tio Julião.
Depois de um silêncio, o Daitula falou primeiro e disse: “Olá tio, como está?” E deu-lhes de comer e beber com toda a cortesia. Era combili o que serviram. O tio estava muito assustado porque agora eles iam querer matá-lo de certeza. Depois de comerem, o Daitula disse: “O tio sabe por que razão nós o capturámos e trouxemos para aqui?” O tio Julião respondeu a tremer que não sabia. E então o Daitula perguntou se não tinham ouvido falar, nesse aldeamento onde estavam a morar agora, de uns homens da resistência que foram mortos ou entregues à tropa ocupante. Foi só então que o tio Julião se lembrou de que, em Cumbua, nós tínhamos matado recentemente um ninja e tínhamos entregado um outro à tropa. Agora o tio Julião percebeu que eles afinal não eram ninjas! Eram de ailaran, das FALINTIL.
O tio então foi logo dizendo: “Eu sei aquilo que o Sr. Comandante está a referir. Matámos sim. Nós matámos um e entregámos outro aos ocupantes. Não sabíamos que eles eram de ailaran.” E o tio então contou tudo o que tinha acontecido e o que sabíamos sobre os vagabundos que roubam as crianças que encontram sozinhas.
“Na semana passada ouvimos o povo do suco Lelalai gritar que havia ninjas ali perto. E, com efeito, nós vimos dois desconhecidos virem a correr para fora do acampamento do suco Lelalai. Junto com a gente de Lelalai, nós corremos atrás deles e perto da fonte de Cumbua, um deles escondeu-se e o outro correu em direção ao mato. Nós descobrimos e matámos o que estava escondido e o outro que correu para fora, nós conseguimos capturar. Ele tinha uma arma, mas não a usou.”
Faz parte do regulamento das FALINTIL não disparar sobre o povo, como aconteceu dessa vez. Os ninjas disparam sobre o povo quando têm arma. “Segundo se dizia entre nós,” continuou o tio Julião, “os ninjas andam sempre com muito dinheiro. Por isso, quando o segundo homem foi capturado, nós procurámos a carteira, mas as calças dele estavam tão velhas e gastas que se desfizeram. O prisioneiro então falou e disse que vinha de ailaran. Mas, apesar dele não se ter defendido com a sua arma, nós estávamos com medo e por isso entregámo-lo aos indonésios.”
Depois do tio Julião ter terminado, o Daitula ficou calado e parecia cansado. Por fim, olhou para o tio Julião e disse: “Vocês tratam os amigos como inimigos e os inimigos como amigos.”
Um minuto depois, o Daitula perguntou ao tio Julião: “Quantas casas novas os indonésios construíram em Quelicai?” O tio não sabia. “Nós sabemos. Eles construíram muitas casas e até igreja, orfanato, hospital. E nós vamos impedir os indonésios de construir? Não vamos. Quando os indonésios se forem embora, então as casas ficam para nós, e nós usamo-las. O que é bom, é para ficar.” O tio Julião não disse nada. Então o Daitula levou o tio para outro lugar ali perto e mostrou-lhe umas caixas com armas. “Estas armas são novas,” disse, “e eu pergunto se o tio quer levar alguma destas armas consigo? Se quiser levar, pode levar.” Nesse momento o tio Julião percebeu que tinha a vida nas mãos. Conseguiu fazer um sorriso e disse: “Por favor, Sr. Comandante, use as armas todas para libertar a nossa nação! Eu não quero nenhuma arma.” Sem perder o seu cansaço e tristeza, o Daitula então respondeu: “Sim, vamos usar, mas nós, sem a ajuda do povo, nunca vamos conseguir libertar a nossa nação.”
Passado mais um minuto, o Daitula disse: “Voltem para o acampamento. Digam à tropa que vocês foram capturados pela resistência e, depois de serem interrogados sobre esses ninjas, eles vos soltaram. Mas quando vos perguntarem onde está localizada a resistência, digam que ela está num local diferente deste, mais para sul.” De facto, uns minutos depois de comerem de novo e conversarem um pouco mais, foram levados de volta a Cumbua por dois membros da resistência, os quais os deixaram ainda longe e não quiseram vir com eles para mais perto.
Era já noite quando os dois chegaram a Cumbua, mas não perderam tempo e foram logo apresentar a sua queixa ao comandante da tropa. Ainda me lembro bem de que, logo no dia seguinte pela manhã, os regadores passaram por cima de nós e foram regar onde o tio Julião tinha dito que estavam os membros da resistência. E era mais para sul do que em Desá, era entre Aduquele e Desá.
Eu julgo que, daí por diante, o tio Julião passou a ter contactos com o Daitula. E sei que o meu pai, nos poucos meses que teve de vida, também passou a colaborar com a resistência, onde era conhecido pelo nome de código de “Maunoco”.
Como contei, 1979 foi um ano de muitas mortes na família. E em 1983 o meu pai morreu também. Ainda me lembro bem dele, muito doente e nós sem medicamentos e sem sabermos como socorrê-lo. A tropa havia-o castigado e depois espancado, atirando-o ao chão e dando-lhe pontapés. É possível que desconfiassem dele e é também possível que, simplesmente, não gostassem dele. Desde a data deste castigo, ele ficou doente e acabou por não resistir.
Disseram-me que o meu pai foi espancado por não ter “respondido bem”. Acredito que a tropa também o tivesse maltratado porque ele, como chefe de aldeia, não ficava calado perante uma ordem errada. Enquanto o povo sofria e se calava, o meu pai falava sempre. Lembro-me, por exemplo, de ele ter conseguido salvar a vida de um homem, também chamado Domingos Gusmão, que estava a ser levado por ter, supostamente, saído da zona onde nos era permitido estar. Ao ver que o levavam, o meu pai gritou: “Esse aí é do meu povo! Fez algum mal? Não fez!” E o certo é que o deixaram livre. Isto aconteceu por volta de 1982, um ano antes de morrer. Mais tarde, este Domingos Gusmão veio a ser por sua vez chefe da aldeia Uaidora.
Quando vinham ordens absurdas, o meu pai tentava ignorá-las. Lembro-me de ele ter sido castigado por um comandante indonésio devido a não ter mandado o povo de Uaidora à missa de domingo na igreja de Quelicai. O castigo consistiu em pô-lo dentro do campo de arroz durante várias horas. Foi obrigado a permanecer enfiado na água suja e isso foi uma das coisas que lhe arruinou a saúde.
É também natural que a tristeza o tenha abatido: tudo aquilo por que lutara durante anos estava a ser destruído. A malária havia reaparecido nos baixios, a falta de higiene era geral e trazia infeções, muitas crianças, por culpa do TBO, deixavam de ir à escola ou ficavam atrasadas nos estudos. E as nossas boas tradições, a língua, os costumes, a interajuda que antes reinava entre nós, tudo ia desaparecendo e era substituído por uma coleção de regras, quase todas absurdas, a que nem os próprios indonésios obedeciam.
Como os meus dois avós, a quem eu fora entregue, já tinham morrido, por morte de meu pai eu fui adotado, juntamente com o meu irmão Marçal, pelos tios Julião e Juliana, aqueles que constam da minha certidão de Batismo. Isto aconteceu quando eu tinha uns 13 ou 14 anos de idade. O tio Julião não tinha filhos e já havia adotado um sobrinho, Jeremias Luís, cuja mãe, sua irmã mais nova e, portanto, também prima direita do meu pai, morrera antes da invasão. O pai de Jeremias Luís morreu em Cumbua uns dois anos antes do meu. Outros dois irmãos mais novos do Jeremias Luís também já haviam morrido antes da guerra.
O pai do Jeremias Luís chamava-se Nocosaua e era um rijo trabalhador. Ele era de Uaidora Uma Inauaé e tinha, em Cumbua, dois grandes quintais por sua conta. Um desses quintais era à volta da sua casa e o outro era perto de Asataunúro. Quando o pai do Jeremias Luís morreu, deixou-lhe o quintal de Asataunúro e o outro, aquele que rodeava a casa, foi deixado à Celestina, irmã do Jeremias e que é a mulher do tio António. O tio Julião ajudava o Jeremias a cultivar esse seu quintal de Asataunúro. A casa do tio António e a casa do pai do Jeremias estavam próximas.
Quando o meu pai morreu, a minha mãe entregou aos filhos mais velhos o quintal maior, o que estava ao lado do quintal do pai de Jeremias em Asataunúro, e o tio Julião dividiu esse quintal entre mim e o Marçal. O Marçal cultivava a parte de cima e eu a de baixo. E quando, mais ou menos em 1984, o Jeremias Luís foi estudar para Baucau, eu e Marçal dividimos a quintal dele entre nós para aumentar os nossos. O Marçal é mais novo, por isso o tio Julião sempre o ajudava a cultivar o quintal dele.
O tio Julião era disciplinado e exigente. Todas as tardes, ao voltar da escola, íamos diretamente para esse quintal e trabalhávamos pela tarde fora. Era longe de casa: de Quelicai até nossa casa em Cumbua leva-se mais ou menos uma hora a andar e de nossa casa ao quintal eram outros 45 minutos.
Entre 1983 e 1986, nós fomos três duros cultivadores, mesmo comparando com o trabalho realizado pelos restantes agricultores da aldeia. Quando chegávamos da escola, comíamos e seguíamos para o quintal sem perder tempo. Ao regressar, trazíamos mandioca ou batata para comermos na manhã seguinte, ao meio-dia e ao jantar. Era a tia Juliana e a sua irmã mais velha quem fazia as refeições. Depois do jantar íamos preparar as lições e a seguir íamos dormir. Mas muitas das noites nem podíamos descansar porque tínhamos de cumprir o nosso turno de vigilância noturna imposto pela tropa. Somos mais do que irmãos, o Marçal, o Jeremias e eu, porque fomos criados juntos e trabalhámos juntos. O Jeremias Luís terá nascido uns dias depois de mim. Quanto ao Marçal, é o terceiro filho, a seguir a mim e à Gabriela.
Quando o meu pai foi espancado, também o tio Julião foi agredido à coronhada, porque desconfiaram que estivesse a ajudar os que se encontravam na floresta. Mas dessa vez, por acaso, ele não estava a ajudar. Tinha ido tratar do cavalo e aconteceu que os nossos militares passaram perto e foram avistados por espias. O meu pai adotivo morreu em 1998 sem nunca ter recuperado a saúde.
Voltemos então às interferências: a ideia fixa da tropa era que o povo colaborasse com eles no combate à resistência. Por causa dessa sua obsessão, não conseguíamos cultivar bem a terra, não conseguíamos estudar, não era possível fazer nada. Andávamos sempre a ser requisitados para tarefas que pareciam brincadeiras de criança. Como contei, a toda a volta de Quelicai eles tinham resolvido, logo em 1979, criar um extenso cordão de postos de vigilância noturna formando um círculo. Eram muitos postos: cada um encontrava-se a escassos 500 metros do seguinte.
Depois de tudo planeado e previsto, eles ordenaram ao povo que guarnecesse esses postos durante todas as noites, desde o sol-posto até ao amanhecer. Se alguém da resistência tentasse entrar no perímetro vigiado, os postos de vigilância deviam dar o alarme fazendo soar uns sinos de bambu. Se não dessem o alarme, eram mortos ou castigados, dependendo do estrago causado pela resistência. Cada aldeia devia guarnecer os postos que ficassem dentro do respetivo território e nenhum homem, com 12 anos de idade ou mais, estava dispensado. O Marçal não tinha 12 anos e escapou a esta requisição, mas tanto eu como o Jeremias Luís, os dois outros duros cultivadores, fomos obrigados a passar as noites que nos caíssem em sorte nos nossos respetivos postos de vigilância.
Os primeiros postos que nos foram atribuídos situavam-se em Asataunúro, na zona que separa Tabere, Uaidora e Caifámuni já no suco de Macalaco. Nós levávamos três quartos de hora a chegar a esses postos de vigia. Os postos estavam dispostos em linha, formando um grande arco. A gente da aldeia Lebenei fazia guarda na parte de Tabere e nós éramos a continuação dessa guarda, até à parte de Caifámuni. Foram-nos atribuídos 6 postos de vigia e em cada um era suposto estarem de serviço três guardas-noturnos. Nós, como sempre, distribuímos esses postos pelas ordens de Uaidora e por Liquiluro, Lopofalo e Depafalo. Não me lembro onde estavam os postos de vigia atribuídos a Manumé.
É certo que o povo da nossa aldeia dava para cobrir o número de vigias, 18 por noite, e, portanto, havia turnos. Mas no nosso caso era pior, porque tínhamos que fazer as nossas vigias e as do tio Julião, que trabalhava duramente durante todo o dia e chegava à noite extenuado. O certo é que as vigias nos calhavam em sorte quase todas as noites. Confesso que não fui boa sentinela: dormi muitos e belos sonos, de que tanto precisava para me repor das horas de estudo e trabalho no campo.
Para além de servirem para dormirmos ao relento, os postos eram também locais de encontro onde os amigos e familiares que estivessem em serviço ali à volta se reuniam, conversavam, preparavam comida, comiam e conviviam. Eu, o Jeremias Luís, o Francisco Xavier, o Pedro, o Agapito, o Ricardo Boavida, o Mateus, o Bernardo e outros, sempre nos ajudámos uns aos outros e sempre nos encontrámos nos postos de vigia, junto com pais, tios e avós, nessa grande fraternidade que é Uaidora – e que surge onde quer que nos encontremos, não importa o lugar.
A falta de vigilância tinha os seus riscos. Uma vez, militares nossos entraram no perímetro supostamente vigiado bem perto de nós, num posto vizinho que já está no suco Macalaco, e mataram o comandante desse suco. Foi o que ouvi dizer, porque eu não vi nada, apenas ouvi uns tiros e vi o clarão quando queimaram a casa do comandante. Doutra vez, eles entraram perto de nós, na aldeia Lebenei da parte de Tabere. Foi perto, mas não ficámos preocupados com possíveis represálias porque eles vieram, não para matar, mas apenas para pedirem comida, roupa e remédios.
Eu e os meus amigos queríamos muito fazer a ligação com os militares na floresta, ajudá-los, receber instruções – e não víamos como. É certo que a tropa inimiga, ao colocar-nos de guarda-noturno, sozinhos em lugares ermos, fez tudo o que estava ao seu alcance para que os encontrássemos. Mas ficar acordados noites a fio à espera de ter a sorte de ver passar algum grupo da resistência não era prático. Por isso só vários anos depois conseguimos começar a trabalhar juntos.
De entre as interferências que sofremos por parte dos ocupantes, a mais desconcertante – também nas consequências que teve – foi a que agora referirei. É sabido que os indonésios respeitavam a Igreja Católica e favoreciam-na o mais que podiam. Acabado o período inicial da invasão (1975 a 1978) durante o qual houve igrejas e escolas bombardeadas e vários religiosos, padres e freiras, foram mortos, os ocupantes começaram a fazer o possível por agradar: davam edifício, estátua, igreja nova, hospital ou orfanato. Pode dizer-se até que a Igreja era a única coisa que eles respeitavam.
Em Quelicai, tivemos ocasião de observar de perto como funcionava esse apoio que o inimigo pretendia dar. Um comandante chamado Compi, conhecido como o “Tujuh Empat Lima” (quer dizer 745, o número do batalhão dele), deu ordem para que o povo fosse à missa ao domingo! Tinham que ir todos e só estavam dispensados os velhos e doentes. Não contente com isso, puniu os que chegavam atrasados com a pena de passarem umas horas enfiados na lama e na água, dentro do campo de arroz que fica abaixo da igreja, um lugar sujo e cheio de doenças. Para os que se recusassem a ir à missa, a punição durava mais horas.
Isto aconteceu talvez por volta de 1979 ou pouco tempo depois, porque o meu pai ainda gozava de boa saúde e, ao ignorar tal ordem, ao não conduzir o povo de Uaidora para a missa como lhe mandaram, foi ele castigado juntamente com vários outros recusantes. Espancaram-no e enfiaram-no no campo de arroz. A partir de então, a saúde do meu pai nunca mais recuperou.
A ordem dada por Tujuh Empat Lima não era apenas arbitrária. Para nós, ela era estranha, incompreensível, porque, naquela época, a grande maioria do povo não era batizado. As pessoas eram animistas e, ao verem-se assim constrangidas, nada mais natural que se zangassem – e houve de facto muita gente que foi parar ao campo de arroz. Porém, o povo de Quelicai, em vez de culpar a Igreja, culpou o comandante indonésio! As pessoas, na sua grande maioria animistas como nós, foram indo à igreja e continuaram a ir aos domingos sem má vontade, com resignação.
O padre João de Deus não fez nada nem disse nada. Ignorou a multidão que, cada domingo, lhe entrava pela igreja adento; e o povo, passados uns meses, começou a pedir o batismo! Primeiro foram só uns poucos, depois iam pedindo em quantidades cada vez maiores. E houve uma altura em que nós, as crianças de Uaidora e Manumé, desejámos também receber o batismo. Comunicada a decisão, passámos a ter, para além das aulas da manhã, aulas de catecismo à tarde, duas vezes por semana. Foi só isso.
Bom, para nós, os três duros cultivadores, não foi só isso: naqueles dias em que havia catecismo não trabalhávamos no quintal. O tio Julião andava contente connosco, com a nossa aplicação, e também gostou de ver que éramos ativos na aprendizagem do catecismo. Tudo o que fosse aprender, ele apoiava, mesmo à custa de sacrifícios. Meu pai também tinha sido assim.
Foi a 16 de julho de 1984 que recebi o batismo da mão do padre João de Deus, na igreja de Santa Teresinha de Quelicai. O Marçal e o Jeremias Luís já se haviam batizado pouco antes.
O padre João de Deus é um “Pai da Nação”. Batizou umas 80.000 pessoas em Timor-Leste! Aquando da invasão ele estava em Baucau e a tropa respeitou-o. A partir de Baucau, foi responsável por 3 municípios: Baucau, Viqueque e Lautém. Viajava muito, só falava português e fazia-o abertamente. Sempre se recusou a falar a língua indonésia e diz-se que por causa disso chegou a ser ameaçado. Com o padre João de Deus estavam os padres Elísio Nocatelli, italiano, que chegou depois e parecia mais dócil, mas não era; Afonso Nasser, espanhol e Magalhães, português, que já morreram. Mais tarde vieram ainda os padres José, de Goa, e Rolando, das Filipinas. Alguém devia contar o que estes padres fizeram pelo povo.
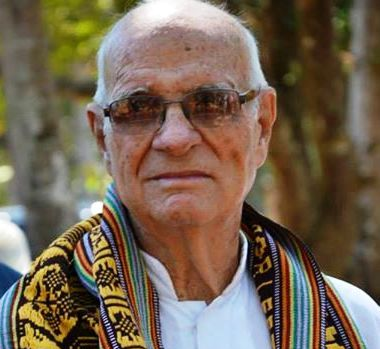
A conversão não se restringiu a Quelicai. Ao longo da década 1980-1990, o povo de Timor-Leste, que até então era animista na sua maioria, converteu-se em grande número. Terão existido explicações para essa conversão em massa; porém, nenhuma abarca o fenómeno na sua extensão. Não foi uma reação contra a ocupação nem foi o oposto, uma forma de ganhar o favor dos invasores, pois o povo continuou a ser chacinado ao mínimo pretexto, quer fosse católico quer fosse animista.
A Igreja ganhou a gratidão do povo por ter ajudado os que precisavam, fossem eles quem fossem. Ajudava sem fazer perguntas e sem pedir nada em troca. E a conversão, embora pareça ter sido rápida, foi na verdade o resultado dos muitos anos da presença da Igreja em Timor-Leste. Nós, em Uaidora, vivíamos lado a lado com vizinhos nossos, iguais a nós, que eram batizados. Havia, da parte do meu pai e tios, boa vontade e até talvez um pouco de admiração para com os missionários, à qual se juntou depois a gratidão.
Julgo que a conversão do povo também terá sido facilitada pelo facto de não existirem, entre a moral católica e a nossa, barreiras muito difíceis de transpor. Sim, existiam barreiras, mas não estavam encrostadas no nosso modo de viver. Não éramos polígamos, a subsistência não assentava em estratos sociais ou na escravatura, valorizávamos a valentia, sim, mas a agressividade era coisa de outros tempos, a vida que levávamos era simples, sem luxos e quase sem cobiça, e gostávamos de ajudar. Julgo que o estado da maioria das civilizações pagãs dos tempos antigos seria talvez mais afastado da moral católica do que o nosso animismo.
Além disso a Igreja, à semelhança do que aconteceu em outros períodos conturbados, foi chamada a tomar sobre si tarefas que são do Estado. Não apenas na instrução, orfanatos e hospitais: teve também de funcionar como registo civil. A certidão de batismo, por exemplo, é um documento indispensável em Timor-Leste porque, durante a ocupação e nos anos subsequentes, quem mantinha os registos em boa ordem era a Igreja. E assim o registo do batismo é o único papel que a grande maioria da população timorense tem para mostrar.1 A tal ponto isto foi assim, que os passaportes, por exemplo, podem ainda hoje ser emitidos com base em documentos da Igreja, como certidões de batismo e de casamento.
Para além de apoio às pessoas no seu sofrimento, acredito por fim que o povo, ao longo da tragédia horrível por que passou, tenha encontrado na Igreja o sentido da continuidade que ajudou a encarar o futuro. A Igreja era o único que lhes restava. Seja qual for a razão, o certo é que a Igreja conquistou a gratidão do povo e essa gratidão é sentida por cada timorense.
Uns meses antes de morrer, o meu pai batizou-se. Os tios Julião e Juliana também se batizaram, bem como quase todos os meus familiares. A avó Alda e a minha irmãzinha Noiloi, ao verem chegar a sua hora, também pediram para serem batizadas. Naquele triste ano de 1979, os “zeladores” (catequistas itinerantes) que iam aos acantonamentos visitar os doentes, receberam muitos pedidos desses e acederam. Isto foi uma novidade pois até então, quem fosse animista morria animista. E aconteceu que, nas famílias onde um moribundo se batizava, os outros membros da família sentiam-se agradecidos e inclinados a receberem o batismo também.
Mas nem todos. O tio Manulaua, que ainda vive em Afalebe, insiste que só se vai batizar mesmo antes de morrer. Algumas famílias continuaram a ser animistas e outras recaíram no animismo depois de se terem batizado. A maioria do povo, porém, mantém-se fiel. Os idosos, apesar de serem católicos praticantes e devotos, continuam a oferecer o primeiro milho ao lulik. E ao mesmo tempo que o fazem, benzem-se e rezam as orações da Igreja! Os padres, nisto, sempre mantêm a posição da Igreja, insistindo em que há um só Deus, é a ele que se deve rezar e a mais ninguém.
Umas poucas famílias tornaram-se islamitas. A tropa ocupante tinha feito uma mesquita e prometia roupa, dinheiro e comida aos que se convertessem. Mas não foi um esforço concertado e convincente. Aliás, os indonésios não eram todos muçulmanos. Em Baucau conheci vários católicos e protestantes. Diz-se que o próprio Tujuh Empat Lima era um católico renegado, oriundo das Flores, uma ilha adjacente a Timor que já esteve sob domínio português. Aí, a proporção de católicos é maior.
Está na altura de contar que o nosso chefe de suco, aquele que passava o dia todo junto da sua gruta em Aguía, era católico. Naquela época, nós não prestávamos atenção à religião de cada um, mas quando começámos a estudar na escola de Santa Teresina, vimo-lo a assistir à missa nos dias em que havia padre. Ele rezava quase todas as manhãs e tinha tarefas de igreja, como dar a comunhão a doentes ou ensinar catecismo. O senhor Dário e a família, ofereceram um búfalo para a festa da minha ordenação sacerdotal. Nesse tempo ele já não era chefe do suco, estava reformado e vivia com o filho Alino em Díli. A mulher dele também era católica. Já morreram ambos há alguns anos. O senhor Dário foi o primeiro chefe que o suco Letemumo teve.
Mas voltemos à nossa narrativa. Ao longo da década de 1980, como a resistência não desaparecesse, os ocupantes tornaram-se ainda mais brutais. A escola de Santa Teresinha ficava no caminho para Lacudala e daí, a partir do entardecer, nós víamos passar os presos que iam ser mortos nessa noite. Os condenados tinham diferentes origens: havia membros da resistência capturados na floresta, havia os que tinham sido apanhados nas suas aldeias de origem, isto é, fora do aldeamento; e por último, todos aqueles sobre quem caísse a suspeita de terem colaborado com a resistência.
As situações eram diferentes, mas o fim era o mesmo: após permanecerem em celas militares durante uns dias, eram levados para serem mortas à noite, sem ruído, com pedras ou paus, no cemitério de Lacudala.
Muitos foram mortos apenas por terem sido encontrados a ir para as suas antigas aldeias, a viverem lá ou a regressarem de lá. O meu melhor amigo, o Teotónio, tinha a mesma idade que eu, mas não a mesma sorte: saiu do aldeamento para ir buscar comida, a tropa apanhou-o e matou-o. Nem sabemos onde está o corpo dele. O meu tio Uai Lui e o seu companheiro Gamuqui, filho do Aleixo, foram ambos apanhados enquanto procuravam frutos. O tio Uai Lui foi logo morto à espada enquanto o Gamuqui tentou fugir, mas acabou por ser alcançado e então degolaram-no. Os corpos deles foram queimados e a tropa disse que os tinham apanhado a passar comida para a resistência.
Outros que também foram mortos estavam a viver no lugar que lhes haviam indicado, mas eram denunciados como apoiantes da resistência pelos informadores, que eram muito ativos. E esses informadores, membros da inteligência militar, também denunciavam por inveja ou por vingança.
No total, talvez tenhamos visto passar uma centena de presos – mas nem todas as tardes tínhamos escola. Esta rotina, os condenados a afastarem-se ao entardecer, teve o seu efeito nos nossos corações, mas não nos tornou mais cuidadosos. Nós, as crianças e adolescentes, éramos quem fazia mais incursões à floresta, porque não nos preocupávamos com o perigo. Lembro-me de que houve uma semana inteira em que não aparecemos na escola. Partíamos do aldeamento de madrugada, íamos à floresta buscar comida e voltávamos já entrada a noite, muito tarde, para não sermos vistos.
E numa destas ocasiões a tropa e os seus ajudantes traidores quase nos apanharam! Estavam à nossa espera. Acho que fomos denunciados por alguém do próprio aldeamento, por inveja. Todo o povo desejava voltar aos seus quintais e colher os frutos que haviam plantado, mas não tinham o desembaraço e a inconsciência das crianças e sentiam inveja de nós.
A mais memorável dessas excursões clandestinas levou-nos para lá de Daraoma, aldeia do suco Laissorulai, e lembro-me dessa excursão como se fosse hoje. Durante o tempo dos portugueses, Daraoma tinha sido como Uaidora, uma aldeia boa para se viver. Mas agora estava abandonada e era como uma floresta, porque o seu povo tinha sido deportado para Daralata, perto de Quelicai.
Éramos 6 ou 7 jovens, não tenho a certeza, e a nossa intenção era encontrar comida bem para sul, nos sucos Abo e Laissorulai. De manhã cedo, saímos de Cumbua, passámos por Quelicai, Daralata, Ruta, Bualale e chegámos a Uaimatale, que pertence ao suco Abo (Figura 1.3). Começámos então a procurar tudo o que fosse comestível, mas especialmente frutos. Naquela época do ano existiam muitos frutos de coco e de “culo” (fruta-pão). Não sei como se diz culo em português, mas é um fruto famoso em Baucau. É produzido numa árvore de grande porte e pode-se cozer, guisar, fritar ou pôr diretamente no fogo, o chamado “culo guisa”. Muita gente em Timor-Leste conhece o culo guisa de Baucau.
A seguir a Uaimatale está Daraoma. Nessa época existiam lá porcos que nós queriamos caçar. Os porcos abandonados durante a guerra tornaram-se selvagens e nós trazíamos cães para os descobrir e tirar das tocas. Além de cães, tínhamos espadas grandes (sita) e pequenas (“suti”, em Tétum diz-se “toduqui” ou catana). Nós usamos a sita e a suti para cortar frutos e matar animais selvagens.
Pela manhã, mais ou menos às 10 ou 11 horas, chagámos a Daraoma e queríamos andar mais para diante na floresta, para apanharmos bons frutos. Então ouvimos o grito de um rapaz que um enorme porco tinha atacado. Ele conseguira trepar a uma árvore e fomos encontrá-lo empoleirado lá no alto. Começámos então a procurar o porco, mas o bicho, que era esperto, desapareceu quando viu tanta gente. Eu não o vi, apenas ouvi o grunhir do porco junto com os gritos do rapaz. Não conseguimos matar esse porco, nem os cães o descobriram!
Depois desse episódio, avançámos mais para sul e encontrámos bastantes frutos de culo e de coco. Ao regressarmos, não transportámos muita comida porque estávamos longe de casa e era preciso andar muito. Julgo que transportei menos de 10 quilos, mas foi um dia bem passado. Tínhamos comido bem e estávamos contentes.
E assim íamos sobrevivendo. Com o tempo, até as fugas do acantonamento se foram tornando quase normais, parte do dia-a-dia. Sabíamos como evitar sermos vistos, pois aproveitávamos as falhas na vigilância que os nossos carcereiros tinham instalado.
Aquilo que mais evitávamos era ficar sozinhos com a tropa, sem testemunhas, pois então eles tratavam-nos com brutalidade ou de forma acintosa. Estou a referir-me ao batalhão, à tropa comum. Para nós, o batalhão é a tropa ocupante que ficava nos sucos até ser rendida e que lutava nas florestas. Eram esses quem mandava em nós: sendo um país ocupado, Timor-Leste vivia sob administração militar. Todos os sucos tinham o seu “babinça” (“babinca” na língua deles) que era uma autoridade civil e militar ao mesmo tempo, com poder sobre um suco, mas atuando desde dentro do batalhão. Os babinças governavam em nome do ABRI (“Angkatan Bersenjata Republik Indonesia”) ou forças armadas indonésias, também chamadas “tentara”, de “Tentara Nasional Indonesia”.
Os militares que espancaram o meu pai e o tio Julião eram do batalhão. Foram também eles que mataram o tio Uai Lui e o seu companheiro Gamuqui; também mataram crianças como o Teotónio, o Manuel e outros amigos ou parentes meus. Matavam, violavam, espancavam – mas não eram os piores. Os piores, os militares que mais crimes cometeram, nem foram os ABRI. Foram os membros da tropa especial chamada “Nangala Baret Merah” (militar de barrete vermelho). Esses sim, foram muito brutos! Torturaram e mataram muita gente. Quem caísse nas suas mãos, desaparecia para sempre. Em Baucau os membros da Nangala tinham o seu quartel onde agora é a pousada. Mais tarde construíram um edifício em Vila Nova com prisão privativa e onde torturavam os prisioneiros. E além destes dois tipos de militares e das milícias por eles criadas, existia ainda a inteligência militar – os espias.
Ao longo dos anos seguintes, tanto eu como os meus irmãos e primos continuámos a estudar. Quando acabávamos a instrução primária, uns iam para a escola pré-secundária publica de Quelicai e outros iam viver para Baucau. Eu fui para Baucau, para a escola pré-secundária de São Paulo.
Em 1986 fui viver para Baucau, a nossa bela sede de município, com o fim de continuar os estudos. Alojei-me em casa dos meus tios Ernesto e Merlinda que moram em Lamégua, um bairro da parte alta da vila onde não entra qualquer um, especialmente quando a situação está tensa.
O tio Ernesto é o irmão mais novo do tio Julião. O Jeremias Luís, que como contei viera para Baucau antes de mim, também vivia com estes tios. Precisávamos de trabalhar, tanto ele como eu, ao mesmo tempo que estudávamos, porque o salário do tio Ernesto não dava para pagar a escola e nem ele nem os nossos pais adotivos tinham disposição para alimentar vidas regaladas. Quando cheguei, o Jeremias já havia conseguido (com a ajuda de um amigo nosso, o Anacleto, hoje empresário em Baucau) um part-time com a família de um funcionário do Tribunal de Baucau chamado Achmad Abdul. Era uma boa família e ele estava contente.
Passados alguns meses, em 1987, o Jeremias encontrou trabalho para mim na Clínica de Saúde Pública de Baucau, com a família do diretor, de nome Hussein. Era outra boa família. Eu ajudava o diretor em tudo o que ele pedisse e ele ajudava-me a pagar a escola e dava-me comida e roupa. Com Hussein viviam três enfermeiros: o Zakir e o Munir, que eram islamitas e o Wayan que era hindu. O Zakir e o Wayan não causavam problemas, mas o Munir bebia. Numa altura em que o Zakir e o Wayan foram de férias, eu e o Munir ficámos em casa juntos e não foi agradável.
Por sorte, naqueles dias chegaram novos juízes a Baucau. O Jeremias chamou-me e disse que era melhor eu ir trabalhar para casa de um desses juízes. Foi assim que mudei de ramo de atividade. Executava todo o tipo de tarefas domésticas: compras, cozinha, limpeza. E levava a cabo tarefas de funcionário quando me pediam. Mais tarde, passei a dormir em casa do juíz que me empregava. O pagamento era entregue à minha escola e eu recebia comida.
Nesse ano, o Jeremias e eu começámos a procurar casa para albergar os parentes mais novos que estavam na aldeia: o Marçal, o Pedro Gusmão, o Francisco Xavier e depois também o Zulmiro da Costa (de Manumé, irmão do meu cunhado), o Lourenço e o Agapito (ambos de Uaidora) e as irmãs Celestina e Adelina, nossas primas. Todos eles desejavam continuar os estudos, mas naquele tempo só existem escolas secundárias em Baucau.
Era muita gente! Depois de procurar alojamento, chegámos à conclusão de que a melhor solução era construir uma casa. E ajudando-nos uns aos outros, lá pusemos de pé uma pequena casa em Lamégua, à distância de uns 50 metros da casa dos tios. Assim, no início do ano letivo de 1989-1990, o Marçal e vários primos de Uaidora e Manumé vieram viver para Baucau. As meninas ficaram com os tios Ernesto e Merlinda enquanto os rapazes ficaram na casa que havíamos construído. A casa só tinha lugar para duas camas, uma pequena cozinha e uma casa de banho. Eu e o Jeremias ficámos a residir no local de trabalho, com os juízes.
A seguir, pouco a pouco, o Jeremias e eu fomos arranjando emprego para o Marçal, o Pedro, o Francisco e o Zulmiro de modo que conseguissem sustentar os seus estudos. Todos eles ficaram com juízes e funcionários vindos da Indonésia. E foi também aí, nessa nossa pequena casa, que a partir de 1990 começámos a planear encontros clandestinos.
Um ano e meio após chegar a Baucau, estando então no segundo ano da escola pré-secundária de S. Paulo, um amigo da mesma turma, o Adérito (do suco Buruma de Baucau) sugeriu-me que lesse a Bíblia. Comprei um Novo Testamento e comecei a lê-lo com grande fruição, todos os dias e todas as noites, mais até do que as matérias escolares.
Uma frase que me atraia dizia assim: “Se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a cruz e siga-me; porque aquele que quiser salvar a vida perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o filho do homem virá na glória de seu pai, com os seus anjos; e então dará a cada um segundo as suas obras (Mt 16:24–27).”
Eu perguntava como poderia seguir Jesus e achava que a minha experiência de sofrimento tinha relação com esta passagem; e também identifiquei o meu tempo de trabalho da terra como a cruz de Jesus. Queria renunciar a mim mesmo, tomar sobre mim a cruz de Jesus e segui-lo, mas ainda não sabia nada sobre a vocação sacerdotal. Aquilo que entrava na minha cabeça era só oração e ajuda aos outros e era isso que tentava fazer. Também gostava de assistir à missa porque Jesus tinha dito que “quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele (Jo 6: 56).” Começando a ir, nunca faltei.
Durante esses anos, a minha vida foi regular e boa. A nossa casa de Lamégua estava situada entre a Vila Nova e a Vila Antiga. A igreja, naquele tempo, estava na Vila Antiga. A minha escola secundária, por sua vez, estava na Vila Nova, entre a casa e o trabalho, que era no tribunal. Eu dormia quase todas as noites na Vila Nova, em casa dos juízes, e de manhã cedo ia diretamente a minha casa mudar de roupa para ir à missa. Depois regressava rapidamente a Lamégua e vestia a roupa da escola, a qual começava às oito da manhã e terminava à uma da tarde. A seguir às aulas, regressava a casa com os meus primos e irmão, almoçávamos juntos e a seguir ia para casa dos juízes onde tinha tarefas domésticas para cumprir e onde passava a noite. Nesta atividade diária, sempre arranjava tempo para ler o Novo Testamento, onde muitas passagens me faziam pensar.
Passados uns tempos comecei a ler também livros sobre vidas de santos e missionários, como São João Bosco, São Domingos Sávio, Santa Madalena de Canossa, Santa Bakhita e outros a que conseguisse ter acesso. Por aí foi como comecei a perceber a vida deles. E passado mais uns anos, também eu desejei vir a ser padre e esse desejo foi aumentando.
Na escola, eu tinha um grupo de colegas, quase todos familiares ou conhecidos de Quelicai, com quem conversava sobre a resistência à ocupação e sobre a libertação que tanto desejávamos. Muitas vezes manifestávamos o nosso desejo de estabelecer ligação com a resistência; e quando nos chegava alguma notícia, comentávamo-la em conjunto. Com o tempo, o grupo foi-se tornando mais fechado e mais consciente daquilo que nos juntava: queríamos resistir ativamente à ocupação. Mas percebíamos que nos faltava o essencial: receber ordens, trabalhar em uníssono com os que queriam o mesmo; e a nossa grande aspiração era ir ter com o Daitula, com algum dos heróis de que ouvíamos falar, para oferecermos os nossos serviços e receber instruções. E como alguém nos tinha dito que os membros da resistência na clandestinidade usavam uma fita vermelha, também nós passámos a usar fita vermelha.
Um dos colegas de ano que se juntou a nós nestas conversas chamava-se Domingos de Oliveira e era de Baguía. Tínhamos ficado amigos quase desde o início das aulas. Quando terminei a escola pré-secundário de São Paulo, transitei para a escola secundária estatal número 1. Comigo vieram vários dos membros deste grupo e entre eles estava o Domingos de Oliveira.
Em 1989, João Paulo II visitou Díli de passagem (não permaneceu em Timor-Leste durante uma noite sequer) e eu assisti à missa dele. A visita de João Paulo II foi benéfica para a causa de Timor-Leste por muitos motivos e um deles foi este: a repercussão internacional das manifestações dos jovens durante essa missa mostrou qual o caminho mais curto para chegar à libertação. A partir daí, a resistência procurou mobilizar os jovens, em especial os que viviam em Díli e em Baucau, evitando ficar confinada à luta armada. Foram assim nascendo as “frentes clandestinas”, cujo papel se tornou preponderante com o passar dos anos.
Eu devo o meu alistamento na resistência às frentes clandestinas e também ao meu colega Domingos de Oliveira. O sistema secundário indonésio era seletivo e, a partir do segundo ano, baseava-se na ideia de dividir os alunos em três níveis segundo a apetência para os estudos. Existiam especialidades que, por serem de acesso limitado, refletiam a aplicação de cada aluno, a qual era medida pelas notas obtidas anteriormente. Na primeira especialidade aprendia-se física, matemática, química e cursos adicionais. Na segunda, aprendia-se biologia, física, química e cursos adicionais. Na terceira, aprendia-se economia, contabilidade, história e cursos adicionais. Em Baucau, para um total de mais de um milhar de alunos, a primeira especialidade só abria vagas para encher uma única sala de aula; a segunda só abria vagas para duas salas; e para a terceira, entravam os alunos restantes.
Ora aconteceu que tanto o Domingos de Oliveira como eu fomos colocados na segunda especialidade e, a partir do ano seguinte, também ficámos na mesma de entre as duas salas de aula possíveis. Foi com ele que eu mais conversei sobre as nossas aspirações e especialmente sobre o desejo de estabelecer ligação com os líderes da resistência.
Houve mesmo uma altura em que tentámos encontrar Xanana em Baucau ou em Díli o que, como é óbvio, nunca conseguimos. O Domingos então sugeriu-me que, posto que não conseguíamos encontrar Xanana, talvez fosse melhor estabelecer ligação com outro líder que ele conhecia e era também uma pessoa importante dentro da resistência – mas não me deu detalhes e o assunto ficou por aí.
Poucas semanas depois, a 16 ou 17 de setembro de 1991, celebrava-se o centenário da catedral de Díli e os jovens foram convidados a participar. De Baucau partiram 14 camionetas cheias de adolescentes e eu era um deles. No dia seguinte, durante o regresso, apareceram bandeiras da FRETILIN1 e todos nós cantámos hinos à independência.
Ao passarmos em Manatuto2 a tropa mandou-nos parar mas depois disseram-nos para seguirmos; e já à entrada de Baucau, antes do aeroporto, a estrada encontrava-se bloqueada e fomos cercados por um forte dispositivo militar. Só carros de assalto eram três! Depois de nos terem assim encurralado, a tropa, com os carros de assalto do lado direito, ocupou o lado esquerdo. As 14 camionetas ficaram alinhados com o dispositivo militar, o qual tinha as armas em posição, prontas a disparar. Eram como um pelotão de fuzilamento muito comprido.
Ali ficámos, com todas aquelas armas apontadas para nós, em silêncio enquanto o tempo decorria e nada acontecia. Passados talvez uns 5 minutos desbloquearam a estada e disseram-nos para seguir. A minha interpretação é que talvez eles recebessem de Manatuto a notícia errada de que os autocarros traziam forças da resistência. Isso deve-se ao facto de cantarmos aqueles hinos e agitarmos aquelas bandeiras. Em Manatuto deixaram-nos seguir, talvez porque tivessem poucas forças em comparação connosco.
Voltámos a ser parados mais à frente, junto a uma casa a que chamam “Post Pertama” (primeiro posto) onde a tropa fazia o controlo de quem passava. Também aí eles haviam reunido um forte dispositivo militar e dessa vez mandaram-nos a todos descer dos transportes.
Estava a anoitecer. Um comandante avançou e perguntou quem era o líder. Respirei de alívio porque quando eles começam a falar já não matam logo ali. O padre Noel, filipino, respondeu em inglês que era ele. O comandante disse: “Vamos tirar a fotografia de todos, um a um.” A ideia, já se vê, era apanhar à noite e matar, como de costume. Mas o padre Noel enfrentou o comandante e disse: “Cada um não pode ser!” Então eles tiraram fotografias a todos, em grupos, aí onde estivéssemos. Este episódio foi duro para o padre Noel porque era novo e não conseguia medir com exatidão o que estava em jogo.
Como me encontrava à frente, fui apanhado em fotografias. Depois a tropa abriu lugar para passarmos. Seguimos, mas ao chegarmos à Vila Nova, o padre Noel disse-nos para descermos e continuarmos a pé. Assim fizemos e caminhámos até à Vila Antiga. Entrámos em Baucau formando uma grande marcha. No trajeto, passámos diante da Escola Secundária Estatal Número 1 e aí fizemos uma manifestação. A maior parte dos professores indonésios pertenciam à inteligência militar e ficaram a saber que eu estava na manifestação. Um professor javanês tomou notas ao ver-me.
A seguir, continuámos a caminhar, já de noite, enquanto muitos se iam afastando para as suas casas. Ao chegarmos à comunidade dos padres salesianos já éramos poucos. O padre Rolando3 estava lá e o padre Noel contou-lhe o que tinha acontecido. O padre Rolando era respeitado pelos indonésios: enfrentava-os e assim ajudou muitos a livrarem-se da prisão.
Como já era noite fechada, o padre Rolando disse: “Posso levar no carro quem tiver medo de ir para casa sozinho.” Ele disse isto porque era à noite que os indonésios iam buscar as pessoas para as matarem. Nessa noite, com medo do que pudesse acontecer, os padres levaram para suas casas todos os adolescentes que conseguiram; mas eu segui sozinho, pois sentia-me seguro: dormia em casa de um juiz do tribunal que era meu amigo. No dia seguinte, porém, eles vieram à escola e tiraram-me mais fotografias, de frente e de lado. E foi assim como a minha cara passou a figurar na esquadra da polícia de Baucau junto com a de Xanana e outros.
Logo depois deste episódio, consegui finalmente estabelecer ligação com a resistência através do Domingos de Oliveira. Uma tarde como qualquer outra, sem aviso prévio, ele disse-me para ir com ele – mas não acrescentou mais nada. Levou-me então a uma casa de aspeto simples em Teulale, na Baixa da Vila Antiga, já na descida para a costa.4 Nessa casa encontrámos uma só pessoa que nos perguntou se queríamos fazer parte da resistência e se estávamos dispostos a jurar segredo. Foi assim que o Domingos, eu e essa pessoa jurámos que nunca havíamos de falar. O juramento foi feito com sangue e nunca falámos até à libertação. Repartimos entre nós fitas vermelhas, desta vez a sério, como sinal de que passávamos a fazer parte da mesma organização.
Percebi que a pessoa com quem falámos era a ligação entre a resistência da floresta e a da cidade. Também percebi que era da mesma região que eu, porque falava Macassae. E notei que era possante. Mas não sabia o nome dele nem o que fazia ou qual a sua situação na resistência.
A organização de que passámos a fazer parte chamava-se “Frente Clandestina Organização Sagrada Família”.5 Muito mais tarde vim a saber que o líder e mentor da Organização Sagrada Família se chamava “L4”6 e era procurado pelos indonésios. Por isso, ele escondia-se nas casas em cujos donos confiava, nunca saía durante o dia e não se encontrava com outras pessoas. Saía só à noite, altura em que mudava para outra casa, outra vila ou município.
Dentro da organização, o meu grupo tinha o nome de “Lamégua” e, no início, era composto por 6 rapazes. O Domingos de Oliveira tomou o nome de código “Caiqueri” que, segundo creio, já usava antes; e eu tomei o nome “Dumão”. Dividimos o trabalho entre os dois: Caiqueri era o encarregado de ligar com a floresta, onde se encontrava com membros de um grupo dirigido por um comandante chamado “L7”.7 Eu era líder do grupo Lamégua juntamente com o Caiqueri, cabendo-me tudo o que fizéssemos em Baucau.
Para mim era fácil mobilizar os jovens porque era isso que eu tinha estado a fazer desde os tempos da escola pré-secundária e aquele grupo original de que já falei não tinha parado de ganhar consistência e aderentes. Além disso, eu fazia parte de muitas das organizações de juventude de Baucau: era responsável pelos acólitos, quase 100; e era responsável pelo grupo vocacional, pelo grupo de jovens de Lamégua (no qual muitos colaboraram connosco) e pelo grupo de jovens de Quelicai em Baucau, tudo atividades da Igreja. Havia ainda a “Cruz Jovem”, que começou em 1989, e ainda havia a escola oficial onde mobilizei vários colegas.
Conhecer bem as pessoas que íamos convidar para colaborarem com a resistência era uma questão de vida ou de morte. Aqueles que tínhamos conhecido em Baucau podiam ser membros da inteligência militar e causavam-nos medo. Os timorenses que ajudaram os grupos da resistência nas montanhas, sempre o fizeram através de pessoas bem conhecidas. É por isso que o meu convívio anterior com gente nova foi valioso: eu sabia de onde vinham.
Os jovens, uma vez mobilizados, procuravam ativamente obter roupa, remédios, dinheiro, documentos de identificação e informações. Depois, o Caiqueri mandava tudo para a floresta. Nunca o apanharam nestas idas e vindas. Era agente duplo, fazia parte da inteligência deles também.
Os membros do nosso grupo Lamégua conheciam-se uns aos outros, mas não todos, porque o grupo cresceu e dividiu-se. Dentro da Organização Sagrada Família era fácil identificarmo-nos com a fita vermelha. O líder máximo, o L4, conheceu talvez alguns líderes locais, mas acredito que não tenha conhecido a grande maioria dos membros porque, como viemos a saber mais tarde, a Organização espalhou-se por vários municípios. O L4 estabelecia ligação com os membros das FALINTIL e trabalhava com responsáveis locais. Os membros da Sagrada Família nunca o viram e, portanto, o trabalho dos traidores não foi facilitado.
A 28 de outubro de 1991, um mês depois de nos terem tirado fotografias, os indonésios mataram o estudante Sebastião Gomes em Díli, no quintal da igreja de Motael, por suspeitarem de ele ser da resistência. A 12 de novembro, quando os colegas do Sebastião foram ao cemitério de Santa Cruz depositar flores na sua campa, a tropa disparou sobre eles e matou centenas de jovens à luz do dia. Em setembro não nos metralharam, apenas tiraram fotografias; em outubro eles assassinaram o Sebastião Gomes e em novembro deixaram cair todas as aparências. Por se ter tornado conhecido, este massacre marcou o início do fim da ocupação de Timor-Leste.8
No dia seguinte àquele em que os jovens de Díli foram chacinados, o chefe dos juízes de Baucau, de nome Iksan, chamou-me e, mostrando preocupação, contou o que havia sucedido. Mas falou em 50 mortos apenas e tenho a certeza de que foi essa a versão que lhe passaram. Três dos meus primos (Zulmiro da Costa, Luís da Costa e Roberto Soares) estavam em Santa Cruz. Segundo eles, o número de mortos foi cinco a dez vezes maior e a seguir, usando baionetas, a tropa acabou com os que estavam feridos ou não tinham conseguido fugir. Foi uma pessoa da Cruz Vermelha quem salvou o Luís: não deixou que um soldado acabasse com ele.
Tanto quanto pude observar, a grande maioria dos militares indonésios e os membros de organizações que eles comandavam não passavam de criminosos, cheios de maldade e de desprezo pelos povos ocupados. Para eles, como referi, a tortura e a morte dos outros eram objetivos que valiam por si e nunca perdiam uma oportunidade de fazerem o mal impunemente. Mas em Baucau conheci também naturais desse país que não eram militares; e muitos dessas podiam ser normais, mesmo bons. Era o caso dos juízes com quem convivi. Alguns até se opunham aos abusos cometidos pelos militares na medida em que isso estivesse ao seu alcance.
Lembro-me do meu patrão, um juiz chamado Jumadi, S.H., me ter uma vez instruído para ficar em casa e, quando chegasse um certo militar javanês que pretendia falar com ele, eu dizer que o juiz tinha saído. O meu patrão soube de antemão que esse militar javanês queria pedir ajuda por estar sob uma feia acusação. O crime era abuso de crianças. O patrão explicou-me que ele ia castigar esse militar e que eu e os meus amigos tivéssemos cuidado com pessoas depravadas.
Com o tempo, foram nascendo laços de amizade entre mim e os juízes do tribunal de Baucau. A maioria eram islamitas, mas alguns eram católicos e outros protestantes. Até existia um que parecia fundamentalista, chamado Tewa Madon S.H. o subchefe dos juízes. Nunca comia nem bebia em casa dos outros, fossem islamitas ou cristãos, e sempre me disse que todos eles eram “haram” (palavra arábica que significa “pecador”). Fosse ele o que fosse, este juiz também foi um bom amigo meu.
Fiquei amigo de todos, prestei favores a todos mas fiquei especialmente amigo daquele em casa de quem me alojava. A amizade era mútua e ele também me ajudou. Para dois deles, Berlin Damanik e Jumadi, ainda hoje sou como família. Eles agora trabalham num tribunal de recurso na Indonésia e quando por lá passo, fico a dormir em casa deles.
Já depois de novembro, estávamos nós numa aula quando a tropa especial entrou. Todos os membros da Organização Sagrada Família andavam com a fita vermelha e eles sabiam que nós tínhamos um indicativo. Em geral, eu e o Caiqueri ficávamos sentados no mesmo banco, um ao lado do outro. Mas, dessa vez, não estávamos juntos porque o professor, cansado de dizer “Domingos!” e ver levantarmo-nos nós os dois ao mesmo tempo, separara-nos uns dias antes. Dessa forma, quem estava ao meu lado era uma menina, filha do administrador. Então tirei a fita, coloquei-a ao lado da menina e disse: “Por favor, guarde esta fita!” Chamaram-me logo a seguir e fui revistado com os outros rapazes.
A partir daí essa menina ajudou-nos! Chegou mesmo a conseguir cartões de identidade para militares nossos que estavam escondidos na floresta. Cartões de identidade verdadeiros, feitos pelo pai dela, muito melhores do que os falsificados. Mas à terceira vez que pedimos mais cartões, o pai recusou e assim acabou essa possibilidade que, enquanto durou, foi boa.
A menina chama-se Cármen, é de Lospalos9 e hoje vive na Austrália, casada com um australiano. Não me lembro do nome do pai dela, o administrador, apenas sei que estudou em Macau. Mas era bom que esse nome ficasse escrito junto com o dela, porque ajudou a resistência com risco de vida, embora por pouco tempo.
Como contei, os alunos e alguns dos professores da minha escola sabiam que eu colaborava com a resistência. Por altura da captura do Xanana, em 1992, a nossa impaciência aumentou por causa dum castigo que sofremos. Apesar de sermos alunos aplicados, nesse ano não passámos no exame final da escola. O castigo atingiu o Caiqueri, eu, o Ernesto (agora militar de Timor-Leste), o Cosme (já falecido), o Laurentino e o Carlito Ximenes. Os professores eram espias e se suspeitassem que um aluno trabalhava com a resistência, não tinham escrúpulos em prejudicá-lo.
O castigo atingiu-nos duramente. Os meus tios julgaram que eu não tinha trabalhado o suficiente. Eu não podia explicar e senti tristeza. Com os outros acontecia o mesmo. Neste clima, convencemo-nos de que íamos ser presos e mortos. O Caiqueri passou a andar com uma granada na mochila. Vivíamos à espera de sermos presos e, entre nós, repetíamos muitas vezes: “não me importo de morrer!”, ou então “estou pronto a morrer!” Estávamos de facto. Era essa a nossa disposição.
A nossa atitude para com os professores também mudou: enfrentávamo-los e denunciávamo-los com dureza, tornámo-nos indisciplinados nas aulas, falávamos abertamente das injustiças. Os colegas gostavam e apoiavam-nos, mas o meu amigo juiz, para quem trabalhava e em casa de quem dormia, preocupou-se muito e dizia para não me expor. Ele chegou a falar na escola por causa da nossa reprovação, mas não fizeram caso; e acredito que também tenha falado na polícia, pois nós nesse ano expusemo-nos completamente e não nos aconteceu nada. Estávamos a abandonar todas as precauções, como se desejássemos que a nossa vez chegasse depressa. Foi a fita vermelha que me tirou desse desespero.
Numa ocasião em que viajava de Díli para Baucau, um homem que eu não conhecia veio sentar-se a meu lado no autocarro e disse: “Se tem fita, não vai passar. A seguir ao aeroporto, no posto de controlo (o lugar onde nos tinham tirado fotografias) eles estão a revistar. Quem tem fita não passa e é morto.”
Eu nem me lembrava, mas vinha, de facto, com a fita! E já estávamos perto, quase a chegar. Então rezei assim: “Senhor, se quiseres que eu seja morto agora, não tem problema. Mas se eu viver, bem sabes que vou ajudar o teu povo. Quero ser padre.” Começou então a cair uma chuvada e, ao chegarmos ao posto de controlo, o guarda não saiu do abrigo. Fez apenas um gesto para o autocarro seguir. A chuva parou logo a seguir.
Sempre havíamos vivido rodeados de mortes. Por volta dessa altura, os militares enfiaram um membro do nosso grupo, o Albino, num saco de arroz e atiraram-no para fora de uma camioneta em andamento, por uma ribanceira abaixo. O Albino não morreu, mas endoideceu. As atrocidades não tinham parado ou sequer diminuído. Eu e outros, acabámos por olhar para o facto de estarmos vivos com algum desprezo, como se fosse culpa nossa. Ora depois daquela chuva, troquei o desprezo pelo desprendimento: viver, morrer, conforme a vontade de Deus. E no fim de contas, naqueles anos também era precisa coragem para viver.
Um dia, já perto da data da minha partida para o seminário, eu, o Caiqueri e outros membros do grupo Lamégua (não me lembro bem, mas devíamos ser umas 6 pessoas) fomos a um lugar menos frequentado, com o fim de encenarmos aquilo que a tropa ocupante fazia aos membros da resistência. O lugar ficava para lá do aeroporto e não era muito longe do posto de controlo onde os militares nos tinham fotografado.
O Caiqueri levou roupas e fardas militares indonésias, granadas, mas sem outras armas, porque as não tinha. O primeiro que fizemos foi escolher o papel de cada ator. Alguns iam fazer de civis timorenses e outros iam fazer de militar indonésio. Coube-me a mim e a outros dois fazer de militar indonésio porque éramos um bocadinho mais brancos de pele e porque os nossos corpos não eram tão escanzelados. Os outros dois, pretos e magrinhos, foram destinados a representar timorenses. Depois de fardados, nós, os militares, atámos os dois pretos e magrinhos com cordas e matámo-los com uma faca igual à dos militares indonésios, tendo escorrido muito sangue, que era tinta vermelha. Entretanto, o Caiqueri ia tirando fotografias.
Fizemos esta encenação porque éramos jovens inexperientes e não recuávamos perante nada. Depois do massacre de Santa Cruz e da captura do Xanana, apercebemo-nos de que os olhos dos jornalistas estavam postos em Timor-Leste. Portanto, era esta a altura de denunciar as atrocidades que os ocupantes cometiam. Estávamos convencidos de que ninguém ia reconhecer que éramos timorenses e que tinha sido tudo a fingir. E, de facto, muitas vezes os militares indonésios haviam matado timorenses exatamente como nós representámos e ninguém tinha podido tirar fotografias.
A razão próxima da encenação foi o facto de o Caiqueri ter feito ligação com um jornalista estrangeiro que lhe pediu provas de atrocidades. Mas, depois de ver as nossas fotos, o jornalista reconheceu que aquilo era fabricado e não se interessou mais. Então o Caiqueri, em vez de deixar cair o assunto, enviou as fotografias à ONU! Assim que soube que as fotos estavam a caminho da ONU, percebi o risco em que todos nós agora estávamos. Andámos com medo durante vários meses, mas não aconteceu nada. O mais natural é que alguém tenha usado a cabeça em vez de nós e tenha destruído as fotografias.
Poucos meses depois parti para o seminário e o meu amigo João foi quem me substituiu como líder do Grupo Lamégua da Organização Sagrada Família. Mas não durou muito nessa tarefa porque, passados outros tantos meses, os militares foram buscá-lo à noite e mataram-no. Quem não tivesse uma boa ligação a qualquer coisa de oficial, quem não estivesse protegido pelos próprios indonésios, não durava muito. A inteligência deles em Baucau conhecia-me e tinha certamente dados sobre o meu trabalho como membro de resistência. Mas não tive medo e até acredito que fossem eles a ter medo de mim, pois sabiam que, para me incriminarem, precisavam de ter uma evidência forte, caso contrário, ficavam expostos a serem eles próprios acusados. Naquele tempo, Timor-Leste vivia sob ocupação militar e os tribunais de Díli e de Baucau julgavam tanto os casos civis como militares.
Para além do que o meu amigo juiz terá feito para me proteger, a minha boa estrela esteve também ligada ao facto de trabalhar nas atividades da Igreja e ir à missa todas as manhãs. Quando cercaram os 14 transportes no aeroporto, os militares devem ter visto o padre Noel e talvez por isso não tenham disparado. E não, não tenho remorsos por me ter encostado às organizações da Igreja para difundir a resistência. Hoje seria diferente porque, como sacerdote, represento a Igreja aos olhos dos outros; mas naquela época eu era apenas um adolescente e não representava coisa nenhuma.
Não, nós não frequentávamos a igreja por interesse. Éramos sinceros. Talvez uns poucos, quer na frente armada, quer na frente clandestina, tenham fingido uma aproximação à Igreja para serem bem vistos pelo povo e receberem ajuda em caso de perigo. Não precisavam de ter tido tanto trabalho! A Igreja nunca negou ajuda aos que estivessem feridos, doentes ou em perigo. Os padres protegiam as pessoas, não deixavam matar, fossem essas pessoas quem fossem. Os padres Hermenegildo de Deus e Domingos Cunha (que já morreu) abrigaram Matan Ruak em Manatuto; Xanana encontrou refúgio na residência paroquial em Ossú e em Baucau. Outros comandantes, especialmente quando estavam doentes, refugiavam-se nas igrejas. Matan Ruak escreveu uma tese sobre o apoio da Igreja a pessoas da resistência doentes ou em perigo.
É nosso dever lembrar o João, meu sucessor, o Albino e tantos outros; devemos ir buscar os nomes de todos os que, cheios de entusiasmo, deram a vida para que Timor-Leste fosse livre, mas que depois, além de terem sido mortos, foram cair no esquecimento. E é preciso também lembrar os que não morreram, mas foram valentes em alturas difíceis – como aquele administrador de Baucau e a sua filha Cármen, que não estão a receber qualquer reconhecimento.

Após quase 20 anos, os ocupantes finalmente permitiram que o povo voltasse a Uaidora e a Manumé – e os que estavam vivos regressaram.1 O tio Julião viveu o suficiente para voltar a ver a aldeia. Foi aí onde morreu, no ano de 1998, na terra que era a sua.
Não posso dizer ao certo em que ano a família regressou a Uaidora, porque eu então estava em Baucau ou talvez já em Manila, mas foi antes de 1998. A saída de Cumbua deu-se em 1990, quando os invasores deixaram os meus familiares estabelecer-se em Daralata, já dentro do suco.2
Desde 1991 que o seminário Canossiano das Filipinas estava a aceitar jovens timorenses, os quais eram selecionados de entre muitos candidatos. Em 1994, as minhas diligências no sentido de ser admitido, finalmente deram fruto. De entre uns 10 candidatos, fomos aceites o Roberto Soares e eu,3 e lá seguimos para Manila. Em Jakarta, tivemos de esperar pelo visto de entrada nas Filipinas: eles não queriam deixar-nos ir porque estava a preparar-se aí uma conferência sobre Timor-Leste. Mas, por fim, lá conseguimos partir. Chegámos a Manila em junho de 1994.
A vida no seminário não é fácil: muitos entram, mas poucos acabam por ser padres. Durante aqueles anos de estudo e militância clandestina em Baucau, eu sempre pensei que tinha sido chamado para o sacerdócio e, portanto, nunca me esqueci de que, se estava em Manila, era para isso. Como eu, são hoje padres o Jordão Madeira, o Paulo Freitas (entrou em 1995), o Yosef Moensaku e o Henrique da Costa. Outros trabalharam com tanto entusiasmo nas atividades de apoio à independência de Timor-Leste que acabaram por deixar o seminário.
Naquele tempo, não existia nenhum timorense em Manila para além dos seminaristas canossianos e salesianos e por isso a resistência apoiava-se neles. Antes da minha chegada, já o Antero Benedito começara a mobilizar os seminaristas para apoiarem a resistência. O Nelson Berek e o Jordão Madeira foram quem primeiro trabalhou com o Antero. O ano da nossa chegada foi talvez o mais ativo no que respeita a essas atividades. E à data da minha chegada, junho de 1994, aquilo que tínhamos entre mãos era a conferência sobre Timor-Leste.
Em Manila existe uma organização chamada “Initiatives for International Dialogue”, IID, cujo fim é apoiar iniciativas de paz e proteção dos direitos humanos em zonas de conflito armado. Como parte das suas atividades, a IID promoveu em maio e junho de 1994 uma conferência sobre Timor-Leste e desta nasceu, no mesmo ano, a “Asia-Pacific coalition for East-Timor”, APCET, uma organização dirigida por Gus Miclat e Renato Constantino Jr., dois ativistas dos direitos humanos que apoiaram a independência de Timor-Leste.
Cedendo a pressões da Indonésia, o governo das Filipinas tentou boicotar esta conferência, nomeadamente não dando autorização a timorenses para entrarem nas Filipinas. Os ativistas dos direitos humanos queriam que Ramos Horta4 estivesse presente na conferência, mas não conseguiram que o deixassem entrar. Em vez dele, vieram Ágio Pereira,5 António Cardoso e Inês Almeida.
Durante a conferência, só o Antero e o Estanislau participaram ativamente dos trabalhos. O Roberto, eu e outros, fomos assistir a algumas sessões apenas. A conferência contou com a participação de conhecidos ativistas dos direitos humanos com quem o Antero e o Estanislau estabeleceram ligação. Entre eles, lembro-me do Bispo Aloysius Soma e da Madre Mónica Nakamura, ambos japoneses, os quais foram, tanto antes como depois da conferência, muito ativos no apoio à libertação de Timor-Leste.6
Para além da conferência, apoiávamos a resistência no que podíamos. Eu ajudei, por exemplo, o filho do comandante Lere Anan Timur, que alguns padres tinham conseguido enviar para Manila para não ser morto. Consegui-lhe, na embaixada de Portugal, o passaporte para ir ter com Ramos Horta.
O meu primeiro ano de seminário ficou também marcado pela morte do Nelson Berek, arrebatado pelas ondas mesmo na nossa frente. Foi no dia de Natal. O Nelson, o Estanislau, o Roberto e eu, estávamos a passar uns dias de férias em casa de um pároco em Borongan, na ilha de Samar. Nessa manhã, dois seminaristas de Borongan levaram-nos para uma praia acerca da qual o pároco nos tinha advertido que, se o mar estivesse tranquilo, nós podíamos nadar, mas se não estivesse, não podíamos, porque a corrente era perigosa. Ao chegarmos, os dois seminaristas que nos tinham acompanhado foram-se embora. As ondas eram enormes e, ao vê-las, decidi logo que não queria nadar. Mas o Nelson atirou-se à água mesmo antes do Roberto e do Estanislau terem acabado de se mudar. Quando eles estavam para entrar na água, viram o Nelson a ser puxado para fora de pé e a gritar-nos para o irmos ajudar; mas não podíamos fazer nada porque as ondas tinham imensa força e estavam a puxar-nos a nós também.
O Roberto e o Estanislau foram a correr pedir ajuda enquanto eu ficava na praia vendo como o Nelson lutava contra as ondas até desaparecer no mar, talvez passados uns 10 minutos, a escassos 20 metros de mim.
Nesse instante, muita gente apareceu e pareciam zangados comigo. Dois homens quase que me atacaram ali mesmo. Mas como só falaram “Warai-Warai”, a língua de Samar, não percebi uma palavra do que queriam. Por fim, uma senhora perguntou-me em inglês o que andávamos nós a fazer ali e eu expliquei. Então ela contou que já tinham morrido 8 pessoas naquela praia, entre as quais dois americanos. O facto de dois dos afogados serem americanos dava à praia uma espécie de aura ou estatuto. Depois, quis saber de onde vínhamos e também expliquei, mas ela não sabia sequer que Timor-Leste existia e, com desgosto, tive de dizer que os nossos papéis eram indonésios. Por fim, ao ouvir dizer que éramos seminaristas, deixou de se interessar; ela e os homens que pareciam prontos a bater-me foram-se todos embora – como se ser seminarista desse direito a uma pessoa se afogar.
Passados uns minutos chegou o pároco. A missa de Natal era às 10 de manhã e tudo isto aconteceu uns minutos antes. Nesse ano, portanto, não houve missa de Natal naquela paróquia. Umas horas depois, já sem qualquer sombra de esperança, o pároco celebrou uma missa pelo Nelson numa capelinha perto da praia e daí por diante, nesse dia e nos seguintes, procurámos o corpo dele, o qual só veio a aparecer no dia 27 ao fim da tarde, a uns quantos quilómetros do lugar onde se afogara.
Antes do corpo seguir para a autópsia arranjei umas roupas velhas e vesti-lhas para que ficasse composto; e notei que as pessoas, mesmo colegas do Nelson, pareciam ter medo dele. Talvez fosse por já estar estragado, mais até do que seria de esperar. Depois da autópsia, trouxemos o corpo para a paróquia. Ainda tivemos de responder a um interrogatório da polícia e por fim viajámos de volta para Quezon City onde muito povo veio rezar junto dos restos do Nelson. Por fim, a 8 de janeiro, os seus restos mortais foram mandados para Díli e aí puderam descansar em paz.
Entretanto, em Timor-Leste, a segunda metade da década de 90 ficou marcada por um crescimento enorme da frente clandestina. Muita gente usava fita vermelha. A Organização Sagrada Família chegou a atingir os vinte mil membros e espalhou-se por todos os municípios. Embora entre 1991 e 1993 os que usavam fita vermelha não fossem muitos, a partir de 1994, e ainda mais em 1995 e 1996, o número de membros aumentou sem parar; e o poder mobilizador da frente clandestina tornou-se tão grande que foi possível criar um estado de revolta generalizado, a tal ponto que a tropa ocupante perdeu o controlo efetivo de partes do território.
Em 1996 foi concedido o prémio Nobel da Paz a dois timorenses ilustres (Carlos Filipe Ximenes Belo e José Ramos Horta) e um deles era membro da resistência. A partir daí tornou-se evidente, mesmo para os mais céticos, que a causa de Timor-Leste estava longe de ser assunto arrumado e a esperança regressou a muitos corações, tanto na floresta como nos centros urbanos.
As Frentes Clandestinas não ficaram confinadas aos centros urbanos e também se implantaram nas zonas rurais. Em cada município, nos postos administrativos, sucos e aldeias, existiam “caixas” onde se recolhia comida, roupa e outros géneros para entregar aos membros da resistência na floresta. Mas só os líderes de cada caixa comunicavam com os membros da resistência. Nesses anos de alegre expectativa, deu-se realmente uma enorme mobilização do povo e ninguém que conhecesse o que se estava a passar poderia ter alimentado a mínima dúvida sobre qual iria ser o resultado de um referendo, o qual se veio a concretizar, sob os auspícios da ONU, a 30 de agosto de 1999.
Um ano antes do referendo, eu tinha aproveitado as férias de verão para voltar a ver a família e os amigos em Timor-Leste. Ao chegar, informei alguns amigos de que gostava de me encontrar com o Caiqueri e com outros companheiros. Mas foi difícil porque a pressão sobre a resistência não havia diminuído e tanto os que estavam na floresta como os que estavam nas comunidades, como era o caso do meu grupo Lamégua, tinham de ser muito cuidadosos. Os indonésios sabiam muito e controlavam tudo mais eficazmente do que nunca. O clima continuava a ser de grande opressão.
Decorriam os últimos dias dessas férias quando finalmente o Caiqueri e eu nos conseguimos encontrar. Eu já tinha estado com a minha família em Quelicai, Baucau e Díli durante mais de um mês. Foi ele, Caiqueri, quem ouviu dizer que eu estava em Timor-Leste. Ele sabia que eu ia assistir à missa na igreja de Baucau7 e foi aí onde me procurou. O Caiqueri levou-me para Triloca, perto do aeroporto, para casa de amigos seus. Estavam lá pessoas da resistência, mas já não conheci ninguém. O encontro foi rápido, durou mais ou menos meia hora, e a seguir fomos para casa do Caiqueri, ali perto. Vinham connosco o Luís da Costa e o Cesário, enfermeiro no Hospital de Baucau. Chegados lá, a mulher de Caiqueri serviu-nos café e mostrou-nos os filhinhos pequeninos.
O Caiqueri contou-nos que tinha pedido ao padre Rui Gomes (hoje capelão militar) para comprar um bom sistema telefónico que permitisse à resistência comunicar com os jornalistas e políticos estrangeiros, mas o padre Rui não tinha conseguido. Pediu-me então para ser eu a fazê-lo nas Filipinas e respondi que ia ver preços e depois respondia.
Este nosso encontro foi muito imprudente porque quem vinha do estrangeiro era vigiado. Não demorei nada a aperceber-me de quão imprudente havia sido! De casa do Caiqueri voltei para Lamégua, na manhã seguinte fui para Díli e aí chegou-me a notícia de que o Caiqueri tinha sido preso. Quem me deu a notícia foi o Januário,8 meu amigo e também membro da resistência, ao encontrar-nos, a mim e minha irmã Felismina, num microlete perto de Caicoli.9 Ainda procurei saber qual a situação do Caiqueri, o que lhe ia acontecer, mas só me souberam informar que estava para além de qualquer ajuda pois tinha caído nas mãos do grupo de mais perigosos militares, os barretes vermelhos.
Findas as férias, voltei para Manila. Eu sentia medo, pensando que não me iam deixar partir, mas ao passar no aeroporto não tive problemas. Acredito que, nessa época, eles não estariam interessados em chamar a atenção sobre prisões ou mortes que pudessem ser conhecidas no exterior. E assim, consegui voltar para o seminário.
Em 1999, muitos ativistas escaparam de Jakarta para Manila: o Egas Pereira e vários outros. Também estive aí a ajudar, junto com os padres jesuítas. Fomos pedir ajuda à Cáritas e obtivemos comida, roupa e dinheiro para os sustentarmos durante a estadia. O Antero Benedito foi muito ativo também – e acabou por sair do seminário como já acontecera ao Roberto e a outros. Eu, porém, acompanhei tudo o que se fazia, mas continuava a estudar porque queria ser padre – era para isso que estava em Manila.
Em 2003, viajei para a Europa. Estive primeiro em Verona e depois em Trento, em Itália, onde continuei os estudos eclesiásticos. Voltei a Timor-Leste em outubro de 2004. Desde a minha visita anterior, em 1998, tinha havido o referendo onde o povo se pronunciara pela independência e ao qual os indonésios responderam com mais perseguições, deportações em massa e vandalismo em larga escala sobre bens públicos e privados.
Em Quelicai, as famílias com ligações aos indonésios foram-se embora com a tropa enquanto o povo fugia, mais uma vez, para Matebian. Mas dessa vez deu certo, porque com essa fuga as pessoas conseguiram evitar serem deportadas. Quanto ao vandalismo, consistiu na destruição de muitas casas, carros e infraestruturas, mas sem matarem gente. Ao desembarcar, encontrei um país livre, mas desfigurado, com enormes carências e muitas feridas mal sanadas: muitos ressentimentos.
Como acontecera anteriormente, o Caiqueri ouviu dizer que eu estava em Timor-Leste e procurou-me. Fiquei a saber que ele era membro das F-FDTL (militar de Timor-Leste) com divisa de capitão e tinha um carro branco de serviço. Telefonou-me para marcar um encontro e o Zulmiro da Costa, antigo membro do grupo Lamégua, levou-me onde ele estava. O Caiqueri apareceu com a sua nova companheira, uma menina de Lospalos segundo ele me apresentou, mas esqueci o nome dela. Daí, o Caiqueri conduziu-nos a Kuluhun (bairro a leste de Díli) no seu carro. Almoçámos e ele pagou.
Daí para a frente, sempre que eu vinha a Díli, encontrávamo-nos para conversar. Ele mandava o condutor vir-me buscar e encontrávamo-nos em casa dele em B-2 (zona de Becorá em Díli). E da vez seguinte que o vi, o carro branco já era outro, maior. Segundo me disse, era ele quem tratava da logística das F-FDTL.
Foi durante um destes nossos encontros que o Caiqueri me contou o que tinha acontecido com ele depois de nos despedirmos em Baucau em 1998. Ele contou muitas coisas, mas eu esqueci muitas coisas também. Do que me lembro é apenas desta parte: no final dessas férias, logo depois de eu ter saído de casa dele, a tropa especial prendeu-o. Meteram-no num carro militar onde o manietaram e lhe taparam os olhos. A seguir, levaram-no para um sítio que estava perto duma praia.
O Caiqueri não sabia onde estava, mas ouvia o barulho do mar ali ao lado. Aí chegados, os militares perguntaram-lhe: “Sabe onde os membros de resistência estão escondidos?” Ele respondeu que não sabia. Então os militares disseram: “Se não sabe, a sua vida vai acabar aqui mesmo.” Caiqueri notou que as vozes vinham de um bocadinho mais longe e ficou calado porque se dissesse alguma coisa os militares iriam perguntar mais e mais. Os militares repetiram a pergunta, mas as vozes deles vinham de ainda mais longe. Caiqueri ficou calado. Então, um dos militares começou a contar: “Satu!” (um)... “Dua!” (dois)... mas antes de dizer “Tiga!” (três), Caiqueri gritou na língua deles: “Pak, pak, tolong sebentar saya ada sesuatu mau bicara!”, que significa: “Meu senhor, meu senhor, espere, eu tenho uma coisa para contar!”
Se ele não tivesse gritado, os militares davam-lhe um tiro. Então, os militares perguntaram: “O que quer dizer ou falar connosco agora?” O Caiqueri disse que sabia onde se encontrava escondida uma metralhadora. Era no posto administrativo de Baguía, o dele. Na verdade, ele também sabia que essa metralhadora já não funcionava bem. Os militares levaram-no então para Baguía e meteram-no na prisão.
Encontrava-se nessa prisão um menino, um TBO, a “ajudar” os indonésios. Esse menino era da resistência e quando estava a dar comida aos prisioneiros fez ligação com o Caiqueri. Então o Caiqueri pediu ao menino para informar o Comandante Matan Ruak de que, para não o matarem, ele ia ter de revelar onde estava a metralhadora. O menino transmitiu o recado através de outra pessoa e o comandante concordou em dar a metralhadora aos indonésios. Então o Caiqueri revelou onde estava a metralhadora, os tropas ficaram satisfeitos e libertaram-no. Foi isto o que o Caiqueri me contou. Ao ver-se livre, o Caiqueri fugiu para a floresta e a partir daí passou a fazer parte da Frente Armada.
O fim da ocupação estava próximo. O Caiqueri não terá ficado escondido na floresta um ano sequer, mas, por ter aí estado, depois da independência tornou-se militar: seguiu a carreira das armas, por assim dizer, e a sua vida mudou de rumo. Tenho pena, por causa da família anterior dele, mulher e filhinhos pequenos.
O Caiqueri contou-me outras histórias que esqueci. Mataram-no a 24 de maio de 2006, dois anos após o nosso encontro, em Tassitolo, um descampado para lá do aeroporto. Não sei o que ele terá ido lá fazer, sei apenas que fora mandado ao aeroporto para receber militares australianos10 da parte dos nossos militares.
Quando a situação é delicada ou difícil, as pessoas confiam mais naqueles que são do mesmo sangue. E o General Taur Matan Ruak, que então era o chefe do Estado Maior, pediu ao Caiqueri para se encarregar de dar esse recado, talvez porque ambos fossem da mesma etnia, existindo maior confiança entre eles. O certo é que, em vez de ir para o aeroporto, o Caiqueri foi para esse lugar deserto onde parou o carro e onde, com toda a probabilidade, a pessoa que o chamou para lá, e que estaria à sua espera, o abateu com um único tiro na cabeça. Assim morreu o comandante Domingos Oliveira, meu companheiro na luta clandestina. Por que razão teria Caiqueri ido ao encontro da morte? Não sei, acho que existe gente que sabe. Foi o L4 quem o substituiu nessa ida ao aeroporto.
Não é possível perceber a história recente de Timor-Leste sem atender ao papel que os grupos étnicos ainda desempenham na forma como as pessoas se relacionam uns com os outros e confiam, ou não, uns nos outros. Caiqueri, eu e os outros personagens desta crónica, pertencemos à etnia Macassae.11 Os Macassae são gente teimosa. Era isso o que o bispo D. Basílio12 dizia de nós; e têm fama de serem empreendedores: muitos negócios em Baucau e Díli são de Macassae. Dizem que trabalham duramente porque a terra não é boa, o que gera emigração.
Os habitantes de Quelicai têm também fama de causarem problemas, mas serem depois capazes de sair deles. São os chamados “muturabudor” (fura-vidas). Tudo isso é mais ou menos certo, não sei, mas é a fama que temos. Há, porém, uma realidade por detrás dessa fama: os Macassae sempre foram povos guerreiros, habituados a lutar, com tradições de valentia, prontidão, disciplina e destreza no uso de armas. Posso testemunhar que essa tradição estava bem viva durante a minha infância em Uaidora.
Os idosos, esses que ainda se lembram de como se formou a resistência, contam que a base combatente da FRETILIN era Macassae e muitos desses tinham sido antigos militares portugueses. Os Macassae gostavam da profissão guerreira e alistavam-se espontaneamente. Alguns lutaram em África. Aquando da invasão, eles estavam mais preparados e mais dispostos para a luta. Foi isso o que me assegurou um chefe de suco em Ossú, ele próprio um antigo militar português. Em Díli, foram eles os grandes opositores à ocupação da cidade. E em Baucau também, claro. Os comandantes vindos de Quelicai foram lutadores valentes e dedicados que barraram a entrada ao inimigo até serem mortos. David Alex, o Daitula, foi morto em 1998 depois de capturado e nem sabemos onde está o corpo dele. Tinha sido militar português, participou nas operações de defesa durante a invasão e esteve depois na resistência durante os restantes 20 anos, atuando na nossa zona e em outras. São estes os comandantes que fizeram Timor-Leste renascer.
Fui ordenado sacerdote a 28 de junho de 2008. Em Quelicai existe hoje uma igreja nova, espaçosa, feita no lugar da anterior, do tempo dos portugueses. A minha ordenação foi lá. Estiveram presentes militares de Timor-Leste e australianos, o Presidente da República José Ramos Horta e muitos milhares de pessoas. A festa durou dois dias, incluindo a ordenação e a Missa Nova. Antes da ordenação, um padre português, Aires Gameiro,13 preparou-me pregando um retiro em Laclúbar. O padre Aires gosta de escrever sobre Timor-Leste e eu já o ajudei a escrever um livro sobre Soibada e Laclúbar.14 Ele conseguiu escrevê-lo em 40 dias!
Fui ordenado sozinho. Os outros 5 que também foram então ordenados, receberam a ordenação em Viqueque a 15 de agosto. Julgo que D. Basílio quis ordenar-me em Quelicai por ser um povo duro e teimoso como ele diz; e porque não há assim tantos padres oriundos de Quelicai. O Bispo D. Carlos, que é salesiano, foi o primeiro. O segundo foi o padre Germano Gusmão, diocesano, da família de D. Carlos. Eu sou o terceiro. Mas, dos três, só eu cresci na montanha e fui educado em Quelicai.
Quando me ordenei, os idosos admiraram-se e diziam: “Enão o neto de Uatubada, lutador, matador e roubador, aquele que esteve três vezes preso e mesmo na prisão ainda matou, também ele pode ser padre?” Sim, Uatubada, aquele que me criou. Desde antes de eu nascer até antes de subir a Matebian, cuidou de mim e eu dele. Guardo uma doce e respeitosa recordação deste meu avô, um homem de outras eras.
Espero que a minha ordenação tenha feito bem àquele povo que ainda se lembrava dele; também espero que as qualidades das pessoas da sua geração, que eram muitas, lhes sobrevivam e sejam postas ao serviço de causas pacíficas e construtivas.
Já depois de me ordenar, aconteceu que o José Caetano, um amigo meu e também membro da Organização Sagrada Família, aproveitando uma passagem minha por Díli, sugeriu que fossemos os dois visitar o nosso líder máximo L4 em casa dele, em Fatuhada (entre Díli e Comoro). A ideia era falarmos sobre a resistência em Baucau e reconstruir recordações.
Quando o José Caetano e eu chegámos a casa do L4, começámos a contar a nossa parte da história da resistência em Baucau e, a uma certa altura, eu falei do encontro de finais de 1991 em Teulale, na Baixa da Vila Velha de Baucau, entre mim, o Caiqueri e um senhor possante que vinha de ailaran.15 Descrevi a casa onde nos tínhamos encontrado, que era muito simples, e referi o juramento feito com sangue e a distribuição de fitas vermelhas. Então o L4 contou-nos que essa pessoa tinha sido ele próprio! E acrescentou que ainda se lembrava desse episódio, embora já não tanto da cara das pessoas. A seguir, o L4 mostrou-nos o escritório onde guarda o arquivo e recordações da Organização Sagrada Família.
O L4 ficou impressionado ao descobrir que um membro da Organização Sagrada Família era padre, mas só percebi até que ponto ele estava admirado quando, uns anos depois, o ouvi discursar perante uma multidão, durante a distribuição de certificados da organização Sagrada Família aos membros de Laclúbar (Figura 9.1). Nessa ocasião, ele disse que um homem duro, Dumão, membro de Organização Sagrada Família, agora é o padre Domingos Gusmão. E o L4 continuou dizendo que a organização começara com jovens de cabeça dura, mas depois, devagar, os membros foram aumentando e chegou a todo o tipo de gente!
Ficou, pois, entendido, ou pelo menos eu entendi, que os padres fazem parte desse grupo de marginais que se costuma designar por “todo o tipo de gente” e que eu teria sido uma exceção dentro da organização: talvez um intelectual no meio de cabeças duras.
Mas não foi tal. Não é verdade que eu seja menos cabeça dura do que os meus companheiros do grupo Lamégua e a acusação de ser intelectual aplica-se à nova geração de Uaidora e Manumé, não a mim. Sim, apesar de tantas perdas, a nova geração recolheu os frutos que haviam sido sonhados por seus avós. As crianças de Uaidora e de Manumé são aplicadas, com inclinação para os livros. Devido ao amor pelo estudo demonstrado por vários deles, a aldeia está a ganhar fama. Das pessoas que nasceram em Uaidora e Manumé, existem hoje 4 doutorados (PhD), mais de 10 mestres (MSc) e talvez o dobro de licenciados. Um dos doutorados é o Marçal, professor na Universidade Nacional de Timor-Leste.16
Aquele sonho do meu pai e dos meus tios tornou-se realidade e, com o bom exemplo, as crianças mais novas sentem-se entusiasmados e desejam continuar. Deixámos de ser lutadores, matadores e roubadores para passarmos a ser apenas estudiosos. Como resumo desta transformação, é bem no centro da nossa aldeia, em Afalebe, onde se encontra a escola, a capela e o cemitério ali perto, em Faemuni. Afalebe, onde o meu pai e os meus tios nasceram. Tudo ali à volta, na aldeia Uaidora.
Nestes apontamentos sobre a minha infância e juventude falei das pessoas, do que fizeram e de como viviam. Sem serem doutrinadas ou regimentadas, cada uma no seu cantinho, essas pessoas nunca perderam a esperança. Muitas delas souberam ser corajosas em alturas de perigo e ofereceram a vida sem pensarem duas vezes. Idosos, crianças e adolescentes, homens e mulheres. É esse o portento de Timor-Leste e para ele a única explicação está em Uaidora e na vida que descrevi, aquela que os nossos pais e avós nos ensinaram. O povo de Timor-Leste foi assim porque vivia assim.
E se os mais novos desejarem continuar a viver como os seus avós, então eles podem aprender aqui. Podem aprender como as aldeias se governam a si mesmas, como a amizade e a ajuda são o que mantém as pessoas unidas, como os costumes antigos valem mais do que a abundância de regras e de burocracias; e especialmente podem aprender a amar a sua terra, a ter ideais e a lutar por eles sem nunca perder a esperança, mesmo perante o perigo, sim, mesmo perante o impossível.
Pela minha parte, após tantos anos a estudar e a viajar, o que mais desejo é trabalhar com o povo da minha terra, com essas pessoas que regressaram a Uaidora. Eu não quereria ter de andar de carro nunca mais! Quero andar a pé, sentir de novo o ar fresco da montanha, o silêncio misturado com risos e o modo de ser dos meus vizinhos; e que eles sintam que me têm a seu lado. Para além de cumprir os meus deveres de sacerdote, também gostava de ajudar a preservar a organização social de Uaidora e a forma de nos governarmos a nós mesmos.
O que tinha a contar está contado e não há mais nada a acrescentar.1 Mas para aqueles que não conhecem Timor-Leste, vou acrescentar este pequeno capítulo sobre alguns males que a ocupação trouxe e ficaram por corrigir. Para além duma montanha de cadáveres e de um mar de desalojados, a ocupação deixou-nos um funcionalismo público de dimensão exagerada e um número ainda maior de veteranos (antigos membros da resistência), sempre à espera de reconhecimento e recompensas; e uma multidão de bem-feitores internacionais que, a troco da nossa identidade, nos dão coisas que não pedimos. Irei referir cada uma destas sequelas, mas dos cadáveres falarei no fim. Comecemos pelos desalojados.
Muito povo continua a viver nos lugares para onde foi deportado, sem trabalho regular e sem organização social que o proteja. A aldeia e a agricultura de subsistência foram abandonadas, sem que tenham sido criadas alternativas dignas e estáveis. Em vez do apego à terra arável, à aldeia e às suas tradições, as pessoas apegam-se agora às migalhas que recolhem na beira da estrada ou nos centros urbanos. As crianças não estão obviamente a ir à escola e os adultos não parecem estar a trabalhar no campo: ficam pelas bermas a verem passar os todo-terreno, a venderem frutos e mesmo a pedirem esmola. Existem por todo o lado campos abandonados. Vive-se da venda da lenha, de um pouco de café e de legumes ou fruta que se recolhem.
Uma consequência desta subsistência à base de expedientes é a morte da cultura tradicional e da capacidade do povo se governar a si mesmo. Antes estávamos unidos, agora cada timorense tem a sua vida. Antes, éramos uma comunidade com fortes tradições de auto-organização, interajuda e defesa. Hoje somos telhados de zinco, crianças a brincar no meio da sujidade, juntas com os animais, enquanto os jovens, homens e mulheres, fogem para Díli, deixando os idosos para trás ao desamparo.
Tenho pena de ver a capital de Timor-Leste cheia de desempregados, poluída, com as pessoas isoladas umas das outras. Muitos jovens de Díli vivem em bairros de lata e caminham durante horas por estradas barulhentas e irrespiráveis para chegarem à escola. Vivem longe do seu povo, dos seus amigos, sempre atraídos para novidades que não têm dinheiro para comprar, mas cuja cobiça lhes estraga o coração.
A instrução com criação de empregos é a única alternativa a uma agricultura de subsistência centrada na aldeia. Enquanto esse novo tipo de sociedade não surgir, é preferível que o povo continue na aldeia ou que volte para lá; e que as crianças recebam toda a instrução que seja possível dar-lhes. As terras abandonadas devem ser entregues a quem as desejar cultivar. A agricultura ou pecuária podem ser muito aperfeiçoadas e assim, sem se sair da subsistência, é possível tornar o campo mais atrativo. Acredito que, dessa forma e com o passar dos anos, o próprio povo irá reinventar Timor-Leste.
A segunda sequela da ocupação é a abundância de funcionários do Estado e a sua ineficácia. Um dos mecanismos usados pelo inimigo para comprar a lealdade dos habitantes dos centros urbanos foi o seu alistamento na função pública. Com ordenado garantido e quase sem nada que fazer, estes funcionários foram adquirindo, ao longo de dezenas de anos de ociosidade, hábitos de desleixo e irresponsabilidade difíceis de erradicar. Alguns deles terão também ganho apego à mão que lhes dava o sustento.
Díli, e numa menor escala Baucau e as outras capitais, estão cheias de gente ociosa a quem o Estado tem de sustentar. E uma vez desaparecidos os seus mentores, boa parte desta gente dedica-se agora à tarefa de sobreviver tornando-se indispensáveis – o que é, note-se, o oposto da tarefa, nobre e simples, de conseguir que as coisas que devem ser feitas sejam mesmo feitas.
Tal massa de mercenários enfraquece todo o esforço de reconstrução: indiretamente, porque é cara e absorve recursos; diretamente, porque tem meios para dificultar ou até bloquear aquilo que não seja do seu interesse. Os nossos políticos, antigos membros da resistência na sua maioria, nunca passaram pela administração e não conseguem fazer nada sem eles; e também não conseguem fazer nada com eles – portanto não se faz nada.
Desde os tempos da ocupação que esta gente forma uma burguesia isolada do povo, incapaz de entender e talvez sem vontade de entender outras necessidades que não sejam as suas. Vivem em Díli e em algumas sedes de município e aquilo que porventura façam raramente chega às aldeias. Esta falta de interesse contribui para o abandono do campo. Onde estão as pessoas como o meu pai, que viveu dentro da sua própria aldeia e aí pôs em prática com entusiasmo as regras de higiene e instrução, o cuidado com os acessos, a repressão dos abusos?
É impossível governar desde Díli. Sem uma malha administrativa extensiva, tudo deixa de ser simples. Até os objetivos mais comuns como manter a paz e a tranquilidade, tapar um buraco na estrada, comprar algum arroz para distribuir a carenciados, vacinar as crianças, incutir regras de higiene de modo a combater a malária e o dengue, manter a funcionar e expandir a rede de saúde e de instrução básicas... Tudo isto se desdobra em problemas inesperados e estranhos, arrevesados. A razão para esta falta de eficácia do Estado é o funcionalismo – que não funciona nem deixa funcionar; e que raramente está no lugar onde devia estar, porque todos os pretextos são bons para permanecer em Díli.
Vamos à terceira sequela: os grandes aliados do funcionalismo são as instituições internacionais de todo o tipo que pululam em Díli e, esses sim, se desdobram pelos municípios e postos administrativos. Timor-Leste está nas mãos das ONG,2 da ONU, dos cooperantes e da tropa australiana. Enquanto forem precisos, e mesmo quando tiverem deixado de ser precisos, aí estão eles prontos a ajudar. O objetivo devia ser libertar Timor-Leste de apoios externos o mais depressa possível; mas os anos vão passando e parece que afinal o objetivo é prolongar o apoio pelo maior número de anos possível.
Salta à vista a relação entre a presença avassaladora da ajuda internacional e a ineficácia do funcionalismo: se o Estado funcionasse, nem que fosse a meio-tempo, a ajuda deixava de ser precisa. Mas o melhor que se consegue dizer do Estado, da sua administração, é que funciona a dez por cento, se tanto; e mesmo isso, apenas nos centros urbanos: uma vez fora da capital, um carro pode ser parado por rufiões que exigem dinheiro para o deixarem passar; a polícia não se vê e é inútil chamá-la. Não se faz a manutenção de nada. As estradas ficam piores com cada estação chuvosa. Edifícios valiosos, recém-construídos, ficam, em poucos anos, reduzidos a ruínas. Pontes que foram dinamitadas pelos indonésios continuam por reconstruir e o rodado desaparece sem aviso, sem que ninguém se dê ao trabalho de colocar sequer um sinal de perigo.
Os cafezeiros lá continuam a produzir os seus grãos, sombreados por “Madres do Cacau” belas como pinheiros de Roma, copas em socalco. A bananeira, o mango, o coco, lá vão dando frutos como sempre deram. E, por todo o lado, vagabundos e estrangeiros: cooperantes, professores, assessores, médicos. Roçam por nós nos seus todo-terreno, sobrevoam-nos nos seus helicópteros, administram desde longe. Ensinam umas poucas crianças, curam uns poucos doentes, assessoram uns poucos ministros. Em vez do Estado, temo-los a eles. E os anos vão passando.
Não se encontra um esforço sustentado para afastar o povo da miséria, seja criando condições que levem as pessoas a regressarem aos seus antigos afazeres, seja criando alternativas dignas e estáveis à vida na aldeia. A miséria tornou-se uma instituição que, por sua vez, alimenta outras instituições – e assim todos ficam contentes. Ser destituído é hoje uma espécie de estatuto. Timor-Leste é uma Meca do apoio internacional, onde as consciências filantrópicas, ecológicas, pacifistas ou liberais vêm ganhar os seus galões. Ter estado em Timor-Leste tornou-se uma etapa obrigatória em certas carreiras. Quem desejar progredir dentro de uma ONG ou de uma organização da ONU, precisa primeiro de ter sentido a delícia com que o povo de Timor-Leste respira um ar ainda não poluído e vive quase literalmente desse ar.
É também patente que Timor-Leste passou a ser um romance. A culpa é talvez da sua história recente, que se assemelha a uma epopeia: a resistência durante 24 anos, o massacre brutal de um povo que não vergou, a votação em massa pela independência. Sim, Timor-Leste tornou-se um ideal. E como ideal que é, tem de ser o que nenhum outro país quer ser: não poluente, pacifista e dependente ao ponto de se tornar um país de pedintes. A ONU opõe-se à existência de um exército, os australianos opõem-se à existência de uma marinha. Turismo, só ecológico, com cabaninhas de palha. Indústria, só artesanal, com teares manuais. Nada de tratores, nada de frigoríficos industriais, nada que torne a agricultura de subsistência menos dura. Estradas, só com buracos, para inviabilizar o comércio. E a escola da aldeia tem de ser primitiva e heroica, com malária e dengue como parte do currículo.
O terceiro-mundismo tornou-se um ingrediente indispensável porque sem ele é impossível obter subsídios. Terceiro-mundismo, mas só para as populações. Em Díli, a história é outra.
O estado atual de coisas faz-nos descobrir a justeza e a importância de uma administração pública universal e igualitária. Justiça para todos, sem exceções; saúde para todos; educação para todos. Mesmo pouca, mesmo pobre, mas que seja para todos. O apoio, a boa vontade, a esmola, nunca chegam a todos; e mesmo que chegassem a todos, continuavam a ser injustas por pretenderem apresentar como favor o que não é nenhum favor – é devido. Aquilo que o povo não tem e devia ter é devido. A boa vontade nunca pode ser um substituto para o regular funcionamento do Estado.
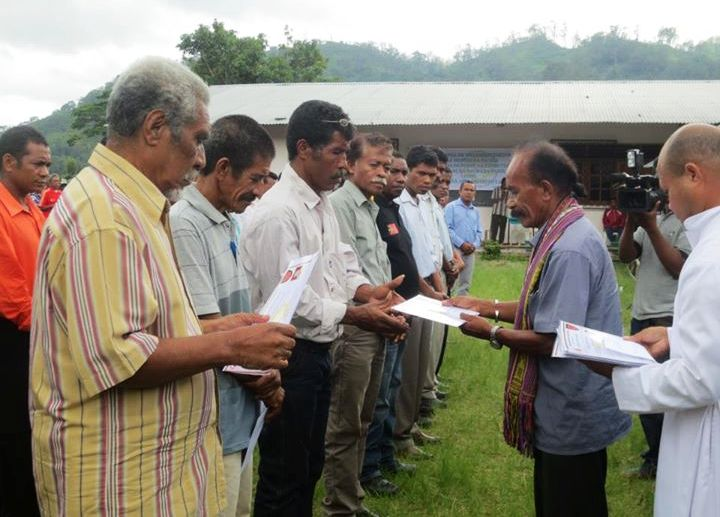
Vou agora desabafar sobre a terceira sequela, os veteranos. Um resultado inesperado dos anos de resistência foi a burocracia que, depois da libertação, surgiu em torno daqueles que nela participaram e estão vivos para recolherem os frutos da sua dedicação. Começo por referir que, como lembrança dos anos de resistência, foi-me oferecido, a 1 de julho de 2011, um diploma onde a FALINTIL atesta que Domingos Gusmão teve a seguinte posição na resistência: responsável pelo grupo Lamégua de Baucau e membro da frente clandestina “Organização Sagrada Família” desde março de 1991 até 25 de outubro de 1999. O certificado é assinado por André da Costa Belo (L4), Cornélio Gama (L7) e Tito da Costa (Lere Anan Timur), major general chefe das F-FDTL.
Hoje, os que militaram na resistência têm direito a serem chamados “veteranos” e a maioria recebe uma ajuda em dinheiro segundo o tempo de serviço: com 1 a 3 anos de serviço não se recebe nada, de 3 a 7 anos recebe-se dinheiro de uma só vez e já não se recebe mais, de 8 a 14, ou de 15 a 19, ou de 20 a 23 anos, recebem-se quantias mensais cada vez maiores segundo o tempo. Eu estou no grupo dos que militaram na resistência por um período superior a 8 anos e inferior a 14 anos e fui formalmente o responsável do grupo Lamégua. Tenho direito a uma pequena pensão, mas não sei se a vou pedir.
Durante a eleição parlamentar de há uns anos, sendo eu vigário paroquial e diretor de escola secundária D. Basílio do Nascimento em Laclúbar, o Xanana passou uma noite na residência paroquial e, entre outros assuntos, falámos dos veteranos. Disse-me ele que quem tem rendimentos não devia receber – mas alguns recebem. Disse-me que o nome de Xanana não está na lista dos veteranos e só recebeu como primeiro-ministro, quando o foi.
Para além do tempo de serviço, foram nascendo mais distinções. Como a Organização Sagrada Família só começou no ano de 1991, os seus membros não têm mais de 9 anos de serviço. Então, há veteranos que são chamados “sénior” quando se encontram no escalão dos 8 anos de serviço ou “júnior” quando começaram mais tarde. E o símbolo inscrito no meu diploma também promete criar ainda mais divisões: os certificados são encimados pelo atual símbolo militar de Timor-Leste (F-FDTL). Ora, segundo o L4, o símbolo foi adotado depois de longas discussões que duraram quase 3 meses. Os militares não queriam permitir que o seu símbolo fosse usado nos certificados, mas tanto o fundador da Organização Sagrada Família, L7, que foi comandante militar durante todos os 24 anos da ocupação, como o seu líder máximo L4, insistiram que a parte que haviam desempenhado na resistência tivera caráter militar. E por isso finalmente os militares e veteranos decidiram que a organização Sagrada Família podia usar o símbolo, mas todas as outras não podiam. Estou orgulhoso de ser agora contado entre os militares, mas penso que isso vai ser mais um motivo de ressentimento.
O tratamento presumivelmente desigual dos veteranos já causou problemas no passado e vai continuar a causar, porque toda esta burocracia e distinções só aumenta a desigualdade e gera ressentimento. Era talvez melhor aligeirar a importância dos veteranos. Dar pensão só a quem, por estar nas florestas com a arma na mão, ficou privado de estudar ou de praticar uma profissão. Os que estudaram ou trabalharam durante a ocupação têm com que viver, então vivam do seu trabalho.
E era talvez melhor centrar as homenagens nos que mais as merecem – os mortos. Chegamos assim à primeira das sequelas referidas, a montanha de cadáveres. Essa montanha é mais valiosa e mais pura do que o ouro, é o preço que pagámos. No fim de contas, os que indiscutivelmente mais merecem ser honrados são os que deram as suas vidas. Entre os que caíram com a arma na mão ou foram capturados e torturados, não existem traidores nem membros alistados à vigésima quinta hora. Ligando mais importância aos mortos e menos aos vivos, os problemas diminuem porque os mortos servem de exemplo, mas não alimentam ressentimentos. Ainda não encontrei ninguém a queixar-se de não estar na lista dos mortos.
Comandantes como, no caso do nosso posto administrativo, Lemo Rai, Liquió, Aquiles, Laicana, António Freitas, Funciano, Pedro Soares, David Alex (Daitula) e outros, não podem ser esquecidos. Eles são um exemplo para as futuras gerações. Centremos neles a nossa vontade de agradecer. Os sobreviventes também merecem ser lembrados, mas podem falar por si. Se, por exemplo, o meu primo Haksolok3 resolver contar como foram os seus muitos anos de luta, terá certamente factos interessantes a referir. Ele e tantos outros, centenas. Têm voz, usem-na.
Conheci o padre Domingos Gusmão em novembro de 2015 e foi então que ele me pediu para escrever um livro sobre as suas aventuras de juventude. Ele queria que o livro fosse escrito em português. O padre Domingos contou-me primeiro os acontecimentos fora do comum que agora estão recolhidos, junto com outros relatos, nos capítulos 4 a 7. Mas como tais acontecimentos não davam para encher senão umas 40 páginas e perdiam muito do seu interesse sem estarem inseridos num contexto, nós combinámos que era melhor eu escrever a história da sua infância e juventude, não apenas a desses acontecimentos fora do comum.
A partir daí, passei a fazer perguntas sobre lugares, costumes, acontecimentos e tudo o que surgisse como resultado das respetivas respostas. Foi essa a segunda fase, no fim da qual o livro ganhou os restantes capítulos e ficou com umas 100 páginas, sendo basicamente semelhante ao atual.
Quando o padre Domingos leu essa versão, viu com clareza a ideia geral a que o livro obedecia. Aderiu a essa ideia e começou a acrescentar mais detalhes e episódios. Além disso, ele quis mencionar nomes de pessoas e lugares, relações de parentesco e outros dados do mesmo tipo.
Já depois do seu regresso a Timor-Leste, o padre Domingos mandou-me vários outros relatos. Foi também fazendo correções aos textos que eu lhe ia mandando. Tudo isto foi interrompido durante mais de dois anos pela doença que o acometeu e da qual ainda está a recuperar.
Na fase final, identifiquei erros e repetições, apaguei partes sem interesse, remeti referências para as notas de pé de página, e escrevi os apêndices e as linhas de introdução ao livro e ao capítulo inicial. O capítulo sobre as sequelas da ocupação é, em parte, da minha lavra, baseado na própria experiência de Timor-Leste, a qual terminou em 2009. Faço votos para que já esteja desatualizado! O padre Domingos leu e não mandou apagar.
Vindo ao encontro da vontade do narrador, os nomes de muitos lugares foram transcritos para o português, onde as letras K e W não se usam. Alguns nomes próprios também foram adaptados: em Tétum, por exemplo, Caiqueri escreve-se “Kaikiri”.
O livro reflete um certo gosto por acontecimentos providenciais, admiração pela força física ou por qualquer desempenho excecional, tribalismo, grande familiaridade com a morte e, a partir de certo momento, uma vida espiritual intensa. Não tentei dissimular estas ou outras características porque o livro é uma memória de pessoas, tempos e lugares.
O livro também é um pouco opinioso e um pouco mórbido. Isso não pode ser atribuído ao narrador e deve-se ao facto de ele tentar responder às perguntas que lhe iam sendo feitas. Desta forma, o texto inevitavelmente reflete, por presença e por ausência, os interesses de quem estava a fazer as perguntas. A morbidez, por seu lado, vem do protagonismo da morte na narrativa. Quando a morte tem um papel tão predominante, ela invade todos os recantos, torna-se difícil de eludir.
Devo dizer que nunca estive em Uaidora. Quelicai ficou fora dos meus itinerários porque, para lá chegar, só de propósito. Tentei acertar com os dados geográficos, mas não sei se consegui.
1969
talvez já com 2-3 anos de idade, o dia 1 de novembro deste ano é a minha data de nascimento, segundo o meu assento de batismo.
1971
morreram o pai do Mário e da Agustina, e a minha irmã Gabriela.
1973
talvez com 6-7 anos de idade, fui neste ano vacinado, o suco Letemumo foi criado e Uaidora deixou de pertencer ao suco Bualale.
1975
abriu a escola em Afalebe e, a 7 de dezembro, teve início a invasão de Timor-Leste.
1976
fomos viver para Aguía, em Manumé, e deixámos de cultivar arroz e milho. Morreu o meu avô Uatubada. Preparámos a fuga para Matebian, passámos a pernoitar em Morissi. Meus pais foram presos. Mudámos para Rossoata e iniciámos a construção de casas em Cailassissi.
1977
Quelicai foi tomada pelo invasor, passámos a viver em Cailassissi e o povo fugiu para a montanha. Uaidora foi destruída.
1978
ficámos cercados em Matebian, o inimigo ocupou Bermeta, Ossolero, e incendiou as nossas casas. Fugimos para Quiticura e, em novembro, rendemo-nos, fomos acantonados em Quelicai, indo trabalhar os campos em Uaidora.
1979
fomos proibidos, a partir de abril ou maio, de ir trabalhar a terra e em setembro fomos deslocados para Cumbua. Morreram dois dos meus irmãos e a avó Alda.
1980
até março, foi o período pior da fome, comecei a frequentar a escola de Quelicai.
1983
morreu o meu pai e fui adotado pelo tio Julião.
1984
fui batizado em Quelicai.
1986
fui estudar para Baucau.
1987
resolvi ser padre.
1989
visita do papa João Paulo II a Díli, manifestações de jovens.
1990
o povo é autorizado a sair de Cumbua e fixa-se na região de Daralata, já dentro do suco.
1991
centenário da catedral de Díli, manifestação em Baucau, entrei para a resistência. Em outubro, massacre do cemitério de Santa Cruz.
1994
ano da saída de Baucau para o seminário nas Filipinas.
1996
o prémio Nobel da paz é atribuído a dois timorenses.
1998
fiz uma visita a Timor-Leste, Caiqueri foi preso, liberto e fugiu para a floresta. Morreu o tio Julião em Uaidora e o Daitula foi preso e morto.
1999
a 30 de agosto, referendo sobre a independência, vandalismo e deportação forçada do povo para a Indonésia.
2003
continuei os estudos em Verona e depois em Trento.
2004
visitei Timor-Leste, o Caiqueri contou-me o que lhe acontecera.
2006
distúrbios em Díli, o Caiqueri é assassinado, forças australianas ocupam Timor-Leste.
2008
minha ordenação sacerdotal em Quelicai.
2015
estive em Macau durante dois anos a fazer um mestrado.
2018
fiquei internado por mais de dois anos a recuperar de doença.
Baucau está num planalto a 450 metros de altitude. Quelicai está a cerca de 600 metros de altitude e Lacudala também. O monte por detrás de Quelicai para norte, o foho Laualiu, tem quase 900 metros de altitude. O planalto de Uailau, a sul do suco Letemumo e já perto de Uaidora, tem 700 metros de altitude. Uaidora está a mil metros de altitude, a mesma de Mocububo, Laumana e outras aldeias desta encosta. Ossolia terá uns 100 metros, se tanto, acima de Afalebe.
Matebian emerge como um colosso no meio de elevações muito menores. Os seus dois planaltos têm cerca de dois mil metros de altitude e os picos que neles assentam podem acrescentar a essa cota outros 300 metros.
Timor-Leste está 8 graus abaixo do equador, à latitude de Luanda e a pouco menos que a de Bahia ou Porto Amélia. O clima é “de savana” com uma estação seca longa e pronunciada. A costa virada a norte, incluindo Baucau e Quelicai, tem um clima mais extremo do que a costa virada a sul. De junho a novembro não cai um pingo de chuva e tudo seca. A altitude faz com que, em aldeias como Uaidora, esses meses sejam frios.
São estes os sucos de Quelicai que interessa considerar, junto com as respetivas aldeias e outros dados:
Suco Bualale
faz fronteira com a parte sul da aldeia Uaidora e tem as aldeias Lialura e Osso-Messa.
Suco Baguía
fica a norte e a nascente de Quelicai e é onde se encontra Cumbua. As suas aldeias são Butileo e Laua-Lio. Existe outra porção deste suco que não tem continuidade territorial com esta porção e fica a norte do suco Bualale, contígua a este. A sua aldeia é Saraída, onde passa a estrada de Quelicai para sul.
Suco Laculiu
está, por assim dizer, dentro do suco Letemumo, com as suas aldeias Lacudala, Mocububo e Uaule e faz fronteira com a parte norte da aldeia Uaidora.
Suco Letemumo
é o maior dos sucos de Quelicai e é nele onde o posto administrativo se encontra. As suas aldeias são Lebenei, Laumana, Manumé, Ruta e Uaidora. Tem uma forma muito irregular.
Suco Macalaco
fica a norte e a poente de Quelicai e as suas aldeias são Bocilai, Defadae e Macalira.
Suco Laissorulai de Baixo
fica a sul e nascente de Uaidora, mas sem fazer fronteira. As suas aldeias são Daraoma, Lego, Saua-Cassa e Ulussolo.
Suco Laissorulai de Cima
fica a sul e poente de Uaidora e as suas aldeias são Baticassa, Uai Daba e Uataliu.
Suco Lelalai
fica ainda mais a sul e as suas aldeias são Dauaduca, Desá, Maluro e Ossoliro.
Suco Abo
no seu canto norte, faz fronteira com a aldeia Manumé e as suas aldeias são Abo Lir e Abo Matebian. Existe outra porção deste suco que não tem continuidade territorial com esta, e fica a poente de Ruta Nova. As suas aldeias são Abo Cairedo e Abo Dae Mena.
Toda a parte central, por assim dizer, do suco Letemumo está ocupada por outro suco, o suco Laculiu. Algo de semelhante acontece com um território do suco Baguía. Tendo isto presente, percebe-se que, para ir de norte para sul do suco Letemumo, por exemplo, para ir de Quelicai para Uaidora, é preciso atravessar o suco Laculiu e depois o suco Baguía.
O povo de Lebenei mora em Quelicai, isto é, no próprio posto administrativo, que inclui o bazar, casas, igreja, orfanato e escola, tudo dentro do perímetro da aldeia Lebenei. O lado de Lebenei para poente chama-se Tabere e nós chamamos Lebenei-Tabere a este conjunto. A poente de Tabere está Letemumo, o lugar povoado que dá o nome ao suco. “Ir para o lado do suco” é ir desde Quelicai em direção a esse lugar povoado.
Para ir de Quelicai a Matebian, passa-se por Lacudala e Mocububo, Laumana e Uai Bitai, já no grande vale. À volta, desce-se de Matebian para Laumana e pode-se então seguir para Uaidora por Ruta Velha, ou então para Laumana e Quelicai, para norte. Laumana fica encostada ao foho Matebian. A fonte Uai Bitai pertence a Laumana e está entre foho Matebian Feto e foho Matebian Mane. Desde a aldeia Laumana pode-se ir para Lacudala e Mocububo que pertencem ao suco Laculiu. Lacudala e Mocububo estão juntos um do outro. De Mocububo vai-se então para Sarabaiquili, depois para Ruta Velha e depois para Uaidora. Ruta Velha fica entre Laumana e Uaidora. Tanto Laumana como Ruta Velha estão no sopé de Matebian. Manumé é já mais longe do suco Laculiu. De Quelicai, passa-se pelo suco Laculiu, por Uaidora, e depois chega-se a Manumé. Manumé está entre Uaidora e Uaibubu. Uaibubu pertence ao suco Abo.
O nome “Ruta” aplica-se a dois lugares diferentes: Ruta Velha, a original, que está hoje deserta, é perto de Uaidora, entre Ossomulai, Laumana e Uaidora. A aldeia Ruta Nova, onde agora o povo mora, é perto do suco Bualale. Desde Ruta Nova vem-se para Uaidora passando ao lado do planalto de Uailau e depois subindo para Uaidora. A estrada de Quelicai para sul segue ao longo de Daralata e depois passa em Ruta Nova, Bualale, e continua para o suco Laissorulai.
Para acabar, aqui fica a lista com referências aos mapas, esboços e vistas incluidos no livro.
Mapa administrativo de Timor-Leste.
Mapa das aldeias e lugares do suco Letemumo.
Esboço das aldeias Uaidora e Manumé.
Esboço da encosta poente de Matebian.
Vista da encosta poente de Matebian desde longe.
Vista da encosta poente de Matebian desde a ribeira do Seiçal.
Vista desde Afalebe para norte, com Laga e Baucau.
Vista desde Quelicai para sul, com os novos edifícios.
Vista da fonte Uai Bitai desde poente.
Mapa administrativo do Suco Letemumo.
Mapa topográfico da região de Quelicai. Uaidora está ao lado de Abo Lir, para Norte.
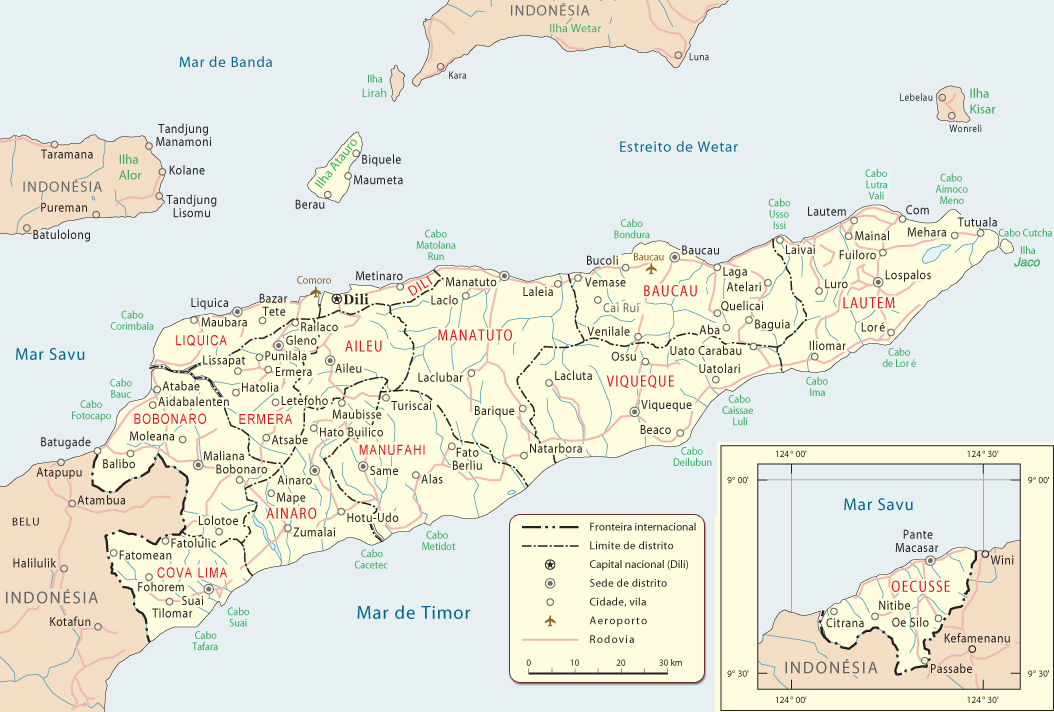
Impresso em Macau em maio de 2022.
Domingos Gusmão (Baucau, Timor-Leste) detém a propriedade intelectual da
narrativa e de algumas fotografias. A propriedade intelectual deste livro é
conjuntamente detida por Domingos Gusmão e por Duarte Trigueiros (Macau,
China) que publicou a presente edição e está mandatado para permitir a sua
reprodução.
A presente edição é limitada e foi entregue pela Fundação Oriente a entidades
pré-designadas em Timor-Leste.
Fotografia da capa: Matebian visto desde os arredores de Quelicai.

Padre Domingos Gusmão em Uai Bitai, 2017.
1O “suco” é uma unidade administrativa. Letemumo é o maior dos 15 sucos do posto administrativo de Quelicai. Está dividido em 5 aldeias: Laumana, Lebenei, Manumé, Ruta e Uaidora. Uaidora é a sul e faz fronteira com o suco Bualale e o suco Laculiu (Figura 1.3).
2“Tuaqueira” ou “tua metan”, Arenga Pinnata. As fibras negras que se usam na cobertura das casas eram usadas pelos navegadores nas cordas das embarcações, sendo uma das fibras que melhor resiste à água do mar.
3Depois de se juntar a outras torrentes, desagua na baixa do Seiçal em Laga.
4Não foi regra. Em certas zonas de Timor-Leste e outros territórios colonizados, as populações podiam ser obrigadas a realizar trabalhos públicos ou privados e existiam castigos corporais para aqueles que fossem pouco diligentes.
5Aos que nunca se batizaram, eu chamo pelos nomes gentios. Nomes cristãos indicam os que vieram a batizar-se, mesmo que tenha sido anos mais tarde.
1De Quetamutu, entre Uatulalu e Afalebe, primo, lado do pai, é Liquiluro.
2De Saepa junto a Afalebe, primo, lado do pai.
3Tanto a “tali metan”, Corypha Utan, como a tuaqueira produzem “tuaca”, “tua mutin” ou vinho de palma, um líquido doce com 5% de teor alcoólico.
4Pano colorido feito no tear tradicional.
5Em Uatulalu vivem duas famílias: a dos meus avós maternos e a do Simão. O avô do Simão era irmão do avô do tio Tomás Aquino. A sua viúva, com os filhos, e o Simão, com mulher e filhos, ainda moram em Uatulalu.
6Disco metálico que representa o sol e que os reis usam ao peito junto com o “quaibauk”, um ornamento que representa a lua e que usam a coroar a fronte.
7Para além dos símbolos de poder já referidos, eles também ofertavam símbolos representando ouro (“lauaimir” em Macassae: de “laua”, dinheiro, e “imir”, vermelho) feitos de cobre ou de capa de bambu e de outro tipo de palma que se chama “bua”. Deixavam os presentes perto da fonte, faziam orações tradicionais e traziam água para dar ao doente.
8Mandada fazer em 1998 pelo padre João de Deus Pires.
9Carlos Filipe Ximenes Belo, ao tempo bispo de Timor, recebeu o prémio Nobel da Paz em 1996 juntamente com José Ramos Horta, também timorense. Foi uma das pessoas que mais fez pela libertação de Timor-Leste: denunciou as atrocidades cometidas na sua diocese, pediu à ONU que realizasse um referendo sobre a independência de Timor-Leste e defendeu denodadamente os direitos humanos enfrentando a incompreensão de governos poderosos e até de outros bispos. O povo recorda-o com gratidão.
1Rosalina e Virgílio tiveram 3 filhos. Um deles, Bebé, já tinha morrido quando vieram viver connosco para Uatulalu. Outro, Ventura, morreu antes de nos refugiarmos em Matebian; Virgílio morreu em 1979 em Cumbua. Manuel, o filho mais velho, desapareceu nessa altura e Rosalina morreu em 1998 em Baucau. Da família, portanto, não restou ninguém.
2Antigo militar português, então morto em combate.
3Foi o segundo presidente da república de Timor-Leste, morto em combate.
4Antigo militar português, foi subchefe do estado-maior das forças armadas de libertação de Timor-Leste (FALINTIL). Morto em 1997.
5Executado por manter forças sob o seu comando. Com ele foram executados Funciano, António Freitas e Fernando (administrador de Uatucarabau e pai de Gastão Sousa, ministros das Obras Públicas em governos recentes).
6Estiveram em Manumé o Elisário, o Azino (João), o Flávio e o Alino.
1Primo, colega no seminário, foi vice-ministro dos Negócios Estrangeiros.
2Posto administrativo de Venilale em Baucau. As grutas estão junto da estrada que liga Baucau a Ossú e Viqueque.
3Família da minha mãe, tem um quintal a sul de Afassucului.
4Caças-bombardeiros Nothrop F-5A, A-4 “Skyhawk” ou BAE “Hawk” de ataque ao solo.
5Tito da Costa, depois foi chefe do estado maior.
6José Maria de Vasconcelos, depois presidente da república.
7Depois militar em Baucau.
8José Alexandre Gusmão, depois líder da resistência, presidente da república e primeiro-ministro.
9A mãe é prima da tia Rosalina e estava abrigada connosco.
1O cemitério de Lacudala era onde os indonésios executavam os prisioneiros.
2O dono do palheiro era o Simão.
3Labilui era o segundo dos cinco filhos de Lucas dos Santos Gusmão.
4Professor, escola secundaria do posto administrativo Lacluta, Viqueque.
5O garrano da ilha de Timor não é tão corpulento como o cavalo comum.
6Ribeira do Seiçal. Na estação chuvosa só se atravessa em Laga onde há uma ponte. Macalira, na estrada de Quelicai, é a sede do suco Macalaco.
7O Tamboro e o tio António são de Olale, entre Afalebe e o monte Ossolia.
8O suco Macalaco estava fora da jurisdição de Quelicai. O povo dos sucos Abo e Lelalai foi colocado perto de Cumbua, em lugares diferentes dos nossos. Os sucos Laissorulai, Bualale e Maluro foram colocados perto de Quelicai.
9As variedades de combili são “bu”, “siapa” e “siacui”. Siacui é considerada a melhor, mas qualquer das três variedades é muito apreciada.
10Francisco Xavier, Bernardo, Gamuqui, Jeremias Luís, António, Ricardo Boavida.
11Pertence à aldeia Laualiu do suco Baguía
1Esta situação também se ficou a dever ao facto de, após a votação para a independência em 1999, os integracionistas terem feito desaparecer todos os registos, como me contou o Leão Amaral, colega no tribunal de Baucau no tempo da Indonésia e que ainda hoje lá trabalha.
1“Frente Revolucionária de Timor-Leste Independente”.
2Sede de município na costa Norte da ilha, entre Díli e Baucau.
3Chegou a Timor-Leste em 1979 e teve um papel importante, ao lado dos padres Nocatelli e João de Deus. O pai dele era militar Filipino, um coronel.
4Onde os militares portugueses moravam; agora estão aí instaladas escolas.
5A resistência estava organizada em Frente Armada ou FALINTIL e Frente Clandestina. Taur Matan Ruak comandava a Frente Armada enquanto os jovens dos centros urbanos punham de pé a partir de 1990 as organizações da Frente Clandestina.
6Comandante André Costa Belo.
7Cornélio Gama, antigo militar português.
8Os responsáveis pelo massacre foram o general Sinton Pajaitan, comandante da região militar Udayana IX, o brigadeiro general Rudy Warrow e o chefe dos serviços secretos Stephanus Gatot. Mataram entre 270 e 400 estudantes segundo o bispo Carlos Ximenes Belo. Nunca foram castigados e podem visitar qualquer país do mundo sem perigo de serem chamados a prestar contas.
9Sede de um posto administrativo de Lautém, a nascente da ilha de Timor.
1Em outras regiões o povo nunca mais voltou às suas aldeias.
2Região extensa de Lebenei a Ruta Nova ao longo da estrada e dentro do suco Laculiu.
3Em 1991 tinham sido aceites Estanislau Martins, Henrique da Costa e Norberto; em 1992, Antero Benedito da Silva, Mariano Carmo, Abílio Belo, Jordão Madeira, Nelson Berek e Yosef Moensaku; em 1993 ninguém foi aceite.
4Prémio Nobel da Paz, 1996, voz da resistência no exterior, granjeou o respeito e interesse da comunidade internacional para a causa de Timor-Leste. Após a libertação, foi ministro dos negócios estrangeiros, primeiro-ministro e presidente da república.
5Ministro da presidência do Conselho de Ministros.
6Em 1991 ou 1992 o Bispo Soma tentou entrar em Timor-Leste, mas foi impedido. Foi Mirandolino Aparício Guterres, primo de Matan Ruak, quem, numa viagem que fez ao Japão, convidou o Bispo Soma e a Madre Mónica a virem assistir à conferência em Manila. Mirandolino trabalhava para a “Japanese International Cooperation Agency” (JICA) em Timor-Leste e foi essa organização quem o enviou ao Japão. Uma religiosa filipina da “Congregation of Medical Sisters”, Elvira Valenzuela, também se envolveu na conferência: foi ela quem telefonou ao Antero para se encontrar com o Bispo Soma. E houve também seminaristas salesianos que ajudaram: o Câncio, o Nuno e outros. O Nuno deixou o seminário, mas o Câncio é agora padre em Portugal.
7Igreja de Santo António, agora catedral.
8Mais tarde membro-substituto do parlamento nacional pela FRETILIN.
9Microlete: pequeno transporte de passageiros. Caicoli: bairro de Díli.
10A 25 de maio de 2006 a tropa australiana interveio em Timor-Leste.
11Predominante em Quelicai, Laga, Baguía, Uatulari, Ossú, em mais 4 sucos de Viqueque, em alguns de Venilale e Lospalos e em 5 sucos da sede do município de Baucau
12D. Basílio do Nascimento foi o primeiro bispo da diocese de Baucau, criada em 1996. Morreu em 2021.
13É da congregação de S. João de Deus e vive na Madeira.
14Soibada e Laclúbar, ambos no município de Manatuto, assim como Venilale em Baucau, Ossú em Viqueque e outros: desde há muitos anos existem aí importantes instituições de ensino da Igreja Católica.
15Vindo de algures na floresta e pertencente à Frente Armada. Em Macassae diz-se “alamuto” ou “uaidi”, um termo que só alguns conheciam.
16Marçal é casado e tem dois filhos. A sua mulher, Landor, foi a primeira indonésia a fazer o mestrado em Língua Portuguesa. Os outros três doutorados são o António João da Costa, o Abílio Belo e a Terezinha. Entre os mestres estão o Jeremias Luís, um dos três duros cultivadores e que hoje é funcionário público em Surabaia, na Indonésia; e ainda o Natalino, o Carlos e outros.
1Daqui até aos comentários sobre veteranos, a voz não é do narrador.
2Organizações não-governamentais.
3Tenente-coronel nas F-FDTL, comandante da Polícia Militar.